“Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo”, disse Sócrates. Séculos depois, António Lobo Antunes confessava que o seu país é o de Tchekhov, Beethoven, Velásquez — o território da cultura, não da bandeira. Dois universalistas separados por milénios, mas unidos na mesma suspeita: que a pátria, quando levada demasiado a sério, se transforma em fronteira.
O patriotismo pode dar raízes, mas também ergue muros. Pode criar comunidade, mas também alimenta guerras.
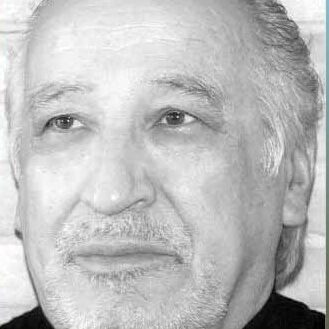
Jurista
Se houvesse menos patriotismo e mais universalismo, talvez o mundo fosse mais fraterno. Não porque deixássemos de ter pátrias, mas porque aprenderíamos a vê-las como capítulos de uma mesma história humana
O universalismo, por contraste, convida-nos a olhar para além das fronteiras. A reconhecer que Beethoven pertence tanto a Lisboa como a Viena, que Tchekhov fala ao coração de qualquer leitor, que Velásquez pinta para todos os olhos. É a ideia de que a cultura, a dignidade e a solidariedade são pátrias comuns.
Não se trata de abolir o patriotismo — talvez precisemos dele como precisamos de uma casa. Mas a casa não deve ser fortaleza. O desafio é equilibrar raízes e horizontes: sentir orgulho na língua e na memória, sem esquecer que o vizinho de outra pátria é também nosso semelhante.
Se houvesse menos patriotismo e mais universalismo, talvez o mundo fosse mais fraterno. Não porque deixássemos de ter pátrias, mas porque aprenderíamos a vê-las como capítulos de uma mesma história humana. A bandeira pode continuar a tremular, mas que não nos impeça de ver o céu que é comum.
Leia também: A democracia do pão e do azeite | Por Luís Ganhão

















