Muito se fala sobre comportamentos extremados nas escolas, sobre crianças que repetem insultos, estereótipos e agressões verbais. Mas há um detalhe que parece escapar a quem governa: as crianças não inventam o vocabulário da violência — aprendem-no. E aprendem-no, demasiadas vezes, ouvindo os adultos que deveriam dar o exemplo.
Quando um ministro — qualquer ministro, de qualquer governo — decide qualificar dirigentes públicos como “mentirosos e cobardes”, não está apenas a reagir a um conflito. Está a baixar o nível da conversa nacional. Está a transformar a autoridade do Estado numa arma retórica. Está a ensinar que o insulto é um instrumento legítimo de governação.
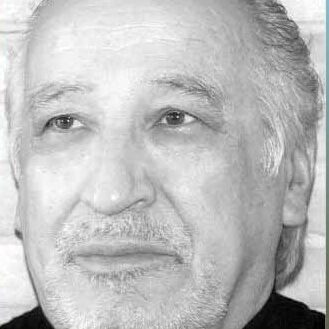
Jurista
E depois, com ar surpreendido, pergunta-se por que motivo os mais novos replicam esse modelo nos recreios. Como se fosse possível exigir urbanidade às crianças quando o próprio poder político normaliza a agressão verbal. Se o topo legitima a violência discursiva, a base limita-se a imitá-la. Denuncia-se o “extremismo” nas escolas ao mesmo tempo que se pratica, a partir do governo, uma comunicação que alimenta a crispação, a desconfiança e a lógica do inimigo.
A verdade é simples: a linguagem de quem governa educa. Cada palavra dita por um responsável público é uma aula pública sobre como se exerce poder, como se lida com o conflito, como se trata quem discorda. E quando essa aula é dada em tom de ataque, o que se ensina não é cidadania — é hostilidade.
Se queremos escolas onde o diálogo substitua o insulto, onde a diferença não seja tratada como ameaça, então é preciso começar por exigir ao poder político aquilo que se exige a qualquer professor: compostura, responsabilidade e respeito pela função que ocupa.
Porque quando o poder perde a compostura, a democracia perde referências. E as crianças, que estão sempre a assistir, perdem o exemplo.
Leia também: Manufatura do consentimento | Por Luís Ganhão

















