A expansão do ensino superior nas últimas décadas tem sido celebrada como um avanço civilizacional — um passo decisivo rumo à democratização do conhecimento e à mobilidade social.
Mas há quem alerte, como o antropólogo e historiador francês Emmanuel Todd, para os efeitos paradoxais dessa massificação: a criação de novas formas de estratificação social, alimentadas por um sentimento de superioridade cultural e pela rejeição de atividades consideradas “menos nobres”.
A alfabetização universal teve um efeito profundamente igualitário. Ao ensinar todos a ler e a escrever, deu às pessoas ferramentas para participar na vida pública, compreender o mundo e reivindicar direitos. A educação aproximou.
O ensino superior, porém, não produz sempre o mesmo efeito. Em vez de unir, muitas vezes separa. E separa porque o diploma deixou de ser apenas prova de competência: tornou-se símbolo de estatuto. Criou-se uma elite escolar que, mesmo quando não tem poder económico, tem poder simbólico — e isso basta para erguer fronteiras invisíveis.
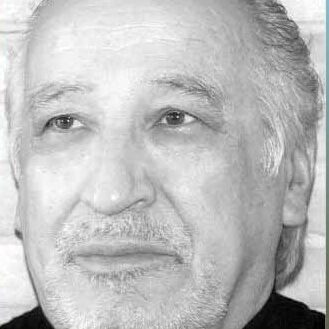
Jurista
Uma democracia adulta precisa de engenheiros e médicos, mas precisa igualmente de técnicos, operários qualificados, profissionais da manutenção, da indústria e dos serviços
É o sistema que as alimenta. Famílias que veem a universidade como único caminho “respeitável”. Políticas públicas que investiram na quantidade de diplomas, mas não na diversidade de percursos. E um mercado de trabalho que promete reconhecimento a todos, mas só o entrega a alguns.
O resultado é perverso. De um lado, faltam eletricistas, canalizadores, técnicos industriais, profissionais da construção — precisamente aqueles de que o país mais precisa para manter infraestruturas, responder a emergências e concretizar investimentos. Do outro, acumulam-se licenciados frustrados, empurrados para cursos que não queriam, para empregos que não existem ou para salários que não permitem vida digna.
Criámos uma hierarquia absurda: não entre competências, mas entre pessoas. A desigualdade já não se mede apenas pelo rendimento; mede-se pelo respeito. E quando o respeito depende do diploma, a sociedade torna-se mais rígida, mais cega e mais injusta.
Não se trata de atacar a universidade. Trata-se de recusar a ficção de que só há uma forma legítima de saber. Uma democracia adulta precisa de engenheiros e médicos, mas precisa igualmente de técnicos, operários qualificados, profissionais da manutenção, da indústria e dos serviços. Sem eles, o país pára — literalmente.
Precisamos de uma educação que ligue, não que separe. Que valorize a prática tanto quanto a teoria. Que permita mobilidade real entre percursos. Que trate o ensino profissional como via de excelência, e não como depósito de expectativas falhadas. Que reconheça que o trabalho bem feito — seja com um livro, um computador ou uma ferramenta — tem igual dignidade.
Porque quando o diploma se transforma em arma de distinção, a democracia perde substância. E quando percebemos que o conhecimento tem muitas formas, recuperamos algo essencial: a ideia de que ninguém vale mais do que o outro por causa de um papel pendurado na parede.
Entre o livro e a ferramenta não há superioridade. Há continuidade. E é nessa continuidade que reside a verdadeira força de uma sociedade justa.
Leia também: A reconstrução de que Portugal precisa – e a mão-de-obra que não tem | Por Luís Ganhão

















