Há quem se interrogue se a chamada cultura woke, com o seu relativismo identitário e a sua reinterpretação dos papéis de género, não estará a gerar mais fraturas do que pontes — sobretudo entre homens e mulheres, e, por extensão, nas estruturas familiares.
O termo woke terá nascido como um apelo à consciência social, à denúncia de injustiças raciais e à inclusão de grupos marginalizados. Contudo, a sua evolução tem sido marcada por uma ampliação de causas e por uma crescente polarização. O que começou como uma luta por igualdade parece, em certos casos, ter-se transformado numa guerra de narrativas, onde cada parte reivindica legitimidade sem reconhecer a dor ou os receios da outra.
Um dos pontos mais controversos é o relativismo de género. A desconstrução das categorias tradicionais — homem e mulher — e a promoção de identidades não-binárias têm gerado perplexidade e resistência. Para muitos, esta fluidez identitária representa liberdade; para outros, uma dissolução de referências fundamentais à convivência e à educação.
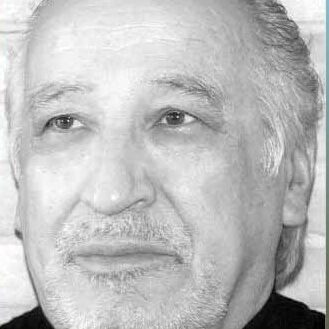
Jurista
Talvez seja tempo de recuperar uma ética relacional, que valorize os laços, a responsabilidade e a escuta — antes que a cultura da fragmentação nos torne incapazes de viver juntos
Outro aspeto é a chamada emancipação feminina. Se por um lado se celebra o acesso da mulher a espaços antes vedados, por outro, há quem critique uma emancipação que legitima vícios historicamente associados ao homem — como a promiscuidade ou o hedonismo — em nome da igualdade. Será que a liberdade feminina deve passar por replicar os excessos masculinos, ou por propor uma ética própria?
Estas tensões não são apenas teóricas. Elas infiltram-se no quotidiano, nas relações afetivas, na parentalidade, na construção de projetos comuns. E aqui surge a inquietação maior: não estará esta cultura a criar um conflito permanente entre homens e mulheres, onde cada um vê o outro como ameaça ou obstáculo à sua realização?
A resposta não é simples. Haverá inquietações justas de parte a parte. Homens que se sentem desvalorizados ou culpabilizados coletivamente. Mulheres que continuam a enfrentar desigualdades reais. Mas o problema maior talvez seja a incapacidade de reconhecer a legitimidade da dor alheia. Em vez de diálogo, instala-se a deslegitimação mútua. Em vez de escuta, o fechamento identitário.
Mas não será possível outro caminho? Um caminho onde a diferença não seja hierarquia, mas complementaridade? Onde a emancipação não seja imitação, mas criação? Onde o respeito mútuo substitua a lógica da revanche? Talvez seja tempo de recuperar uma ética relacional, que valorize os laços, a responsabilidade e a escuta — antes que a cultura da fragmentação nos torne incapazes de viver juntos.
Leia ambém: Desejar e analisar | Por Luís Ganhão

















