As tempestades não são novidade. As cheias também não. Os incêndios muito menos. O que continua a surpreender é a forma como um país que conhece os seus riscos insiste em comportar-se como se eles fossem imprevisíveis.
Os fenómenos naturais extremos sempre existiram. A diferença entre uma fatalidade inevitável e um desastre ampliado mede-se pela preparação. E é precisamente aí que Portugal falha — não por falta de conhecimento, mas por falta de decisão.
Comecemos pelos recursos. Portugal não dispõe da robustez financeira de economias mais fortes e isso obriga a escolhas. Mas demasiadas vezes a escassez serve de argumento para adiar investimentos estruturais que evitariam prejuízos muito superiores no futuro. O exemplo das infraestruturas elétricas é claro: uma rede mais subterrânea teria poupado milhões em danos recentes. O investimento é elevado? É. Mas quanto custa não o fazer? Continuaremos a remendar depois de cada tempestade ou teremos coragem de prevenir antes da próxima?
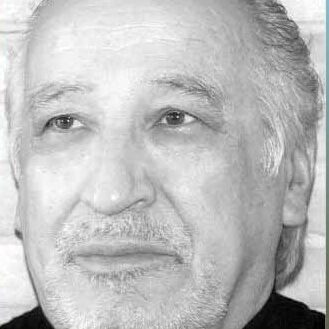
Jurista
Queremos continuar a gerir catástrofes ou assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade de as prevenir? Porque a natureza não muda. O que precisa de mudar é a natureza das nossas decisões
Mais grave ainda é a cedência sistemática a interesses particulares. Autorizar construção em zonas de risco não é um acidente administrativo — é uma opção política. Alimenta o mercado no imediato, gera receita e cria a ilusão de progresso. Mas é uma escolha que transfere custos para toda a sociedade. Cada licença concedida onde não deveria existir é uma dívida futura. Quando a água regressa ao seu curso natural ou quando uma encosta desliza, não estamos perante uma surpresa: estamos perante a consequência de decisões tomadas.
A segunda fragilidade é a aversão ao planeamento consistente. Estudos, relatórios e estratégias multiplicam-se — sobre ordenamento do território, gestão florestal, prevenção de cheias. O problema não é a ausência de diagnósticos; é a ausência de execução. Confia-se no improviso, no “desenrascanço”, como se fosse virtude nacional. Não é. Em matérias estruturais, o improviso paga-se caro.
Finalmente, a instabilidade estratégica crónica. A alternância governativa é saudável em democracia; o que não é saudável é transformar cada mudança de ciclo político num recomeço permanente. Reformas estruturais não sobrevivem ao calendário eleitoral. O novo aeroporto tornou-se símbolo maior dessa incapacidade: décadas de estudos, anúncios e recuos. Mas o padrão repete-se na proteção civil, na política florestal, na adaptação às alterações climáticas. Os fenómenos naturais não aguardam consensos partidários.
A natureza não é negociável. Não ajusta o seu comportamento às nossas hesitações. A crise habitacional é real e exige resposta urgente. Mas se essa urgência servir de pretexto para voltar a construir onde não se deve, estaremos apenas a preparar os desastres de amanhã.
A verdadeira questão é simples: queremos continuar a gerir catástrofes ou assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade de as prevenir? Porque a natureza não muda. O que precisa de mudar é a natureza das nossas decisões.
Leia também: A abstenção que ninguém quer ver | Por Luís Ganhão

















