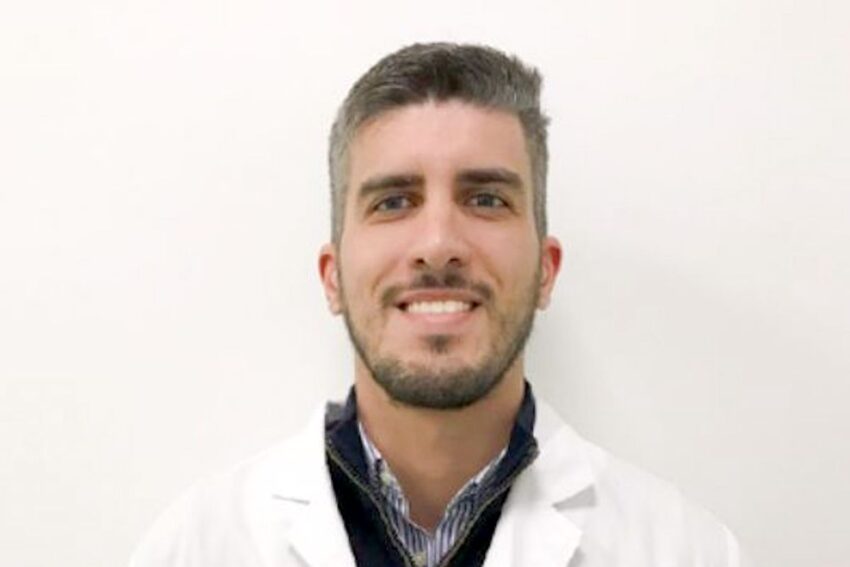Costuma pensar na sua memória como um arquivo fiável, onde os acontecimentos que viveu ficam guardados tal qual como aconteceram? Muitos de nós pensamos que sim, mas a ciência mostra-nos existem alguns fatores que podem contribuir para a memória ser “manipulada”.
Como se constrói então uma memória?
Para compreendermos porque é que acreditamos em coisas que não aconteceram (ou não aconteceram bem assim), é preciso olhar para como funciona a memória. Em vez de um vídeo acessível que se reproduz cada vez que queremos, a memória é um processo ativo com três grandes momentos: codificação, consolidação e recuperação.
Na codificação, só uma parte daquilo que vivemos é realmente registada: o que nos chama a atenção, o que mexe connosco emocionalmente, o que faz sentido no contexto. Mais tarde, essa informação é consolidada no nosso cérebro, num processo que pode demorar horas ou até dias.
Quando recordamos não vamos “buscar um ficheiro”. Reconstruímos o acontecimento juntando fragmentos do que ficou, inferências lógicas, crenças atuais e informação que recebemos depois. É aqui que o passado começa, discretamente, a ser reescrito.
Imagine uma testemunha de um acidente de viação entrevistada meses depois. O que recorda mistura o que de facto viu, aquilo que discutiu com outras pessoas, o que ouviu nas notícias e aquilo que “faz sentido” que tenha acontecido (por exemplo, assumir que a colisão foi muito forte porque havia vidros no chão). Esta reconstrução é automática e involuntária.
Então o que é, afinal, uma memória falsa?
Em Psicologia, falamos de uma memória falsa quando uma pessoa recorda um evento que nunca aconteceu ou recorda um acontecimento real de forma diferente daquilo que efetivamente ocorreu. Não é algo raro nem sinal de doença. Memórias falsas surgem em pessoas cognitivamente saudáveis e podem ir de pequenos detalhes trocados (a cor de um carro, quem disse determinada frase) até recordações completas de situações nunca vividas.
Existem vários fatores que aumentam a vulnerabilidade à criação de memórias falsas:
- Stress: que preserva o núcleo do acontecimento, mas prejudica os detalhes;
- Repetição: ouvir a mesma afirmação várias vezes aumenta a familiaridade e a sensação de verdade;
- Viés de confirmação: Tendemos a recordar sobretudo o que confirma aquilo em que já acreditamos.
Quando muitos se “lembram” mal: memórias falsas coletivas
Se as memórias individuais já podem falhar, as memórias partilhadas por grupos não são mais fiáveis. Nesta sequência de pensamento surge o chamado “efeito Mandela” que descreve precisamente situações em que grandes grupos de pessoas partilham a mesma memória errada sobre factos, imagens ou acontecimentos.
Este efeito tem como origem um evento onde um grande número de pessoas se lembra vividamente de Nelson Mandela (ex-presidente da África do Sul) ter falecido na prisão, nos anos 80. Na realidade, o que aconteceu não foi o falecimento de Mandela, mas sim a sua saída da prisão em 1990, eleição como presidente da África do Sul em 1994, e eventual falecimento em 2013.
Estes fenómenos demonstram como o cérebro preenche lacunas com o que “faz sentido” culturalmente. Quando muitos cérebros passam pelo mesmo processo, nascem as chamadas memórias falsas coletivas.
Desinformação, notícias falsas e o “ponto cego” da memória
Vivemos numa sociedade onde o mediatismo está presente de diferentes formas e difundida por diferentes canais, levando a que desinformação circule depressa. O risco não é apenas acreditarmos numa notícia falsa naquele momento, mas sim essa informação passar a fazer parte da nossa memória autobiográfica, como se fosse algo que sabemos de fonte segura – ou até algo que “nos aconteceu”.
Uma das chaves está naquilo a que se chama confusão da fonte: com o tempo, lembramo-nos do conteúdo, mas esquecemos de onde veio. Deixa de estar claro se lemos algo num site duvidoso, se ouvimos num podcast, se alguém partilhou numa conversa ou se foi uma experiência direta. O cérebro guarda a história, mas perde o rótulo da origem.
Tomemos como exemplo o “ponto cego” do nosso campo visual: há uma parte do campo visual que não vemos (um pequeno ponto escuro), contudo o cérebro preenche-a automaticamente com informação coerente. Se o contexto à volta estiver contaminado por desinformação, aquilo que preenche essas lacunas será baseado em algo que não é fiável.
Como reflexo desta preocupação, em Portugal, cerca de 72% das pessoas dizem estar preocupadas com a desinformação online, segundo estudos recentes.
Qual o papel do psicólogo neste tema? E o que podemos nós fazer?
Os psicólogos têm aqui um papel importante. Por um lado, conhecem os mecanismos que tornam a memória vulnerável a distorções e podem ajudar a explicar às pessoas, em linguagem acessível, que é possível acreditar honestamente em algo que não corresponde aos factos. Isso diminui a culpa individual e abre espaço para mudar comportamentos.
Por outro lado, incentivar a adesão a programas de educação para os média e literacia digital, promovendo estratégias concretas para verificar fontes, reconhecer mensagens manipuladas e lidar com o impacto emocional da desinformação na ansiedade, na confiança e na coesão social. A Ordem dos Psicólogos tem, para isso, o documento “Vamos Falar sobre Desinformação”.
A nível individual, existem pequenos gestos que podem fazer a diferença: desconfiar de conteúdos que provocam reação imediata de choque ou indignação, verificar a fonte antes de partilhar, diversificar fontes de informação e dar tempo à mente para “arrefecer” antes de formar uma opinião.
Ao cuidar da qualidade da informação que deixamos entrar na nossa cabeça estamos também a cuidar da qualidade das memórias que vamos guardar.
Leia também: José Carlos Rolo, a matemática da proximidade