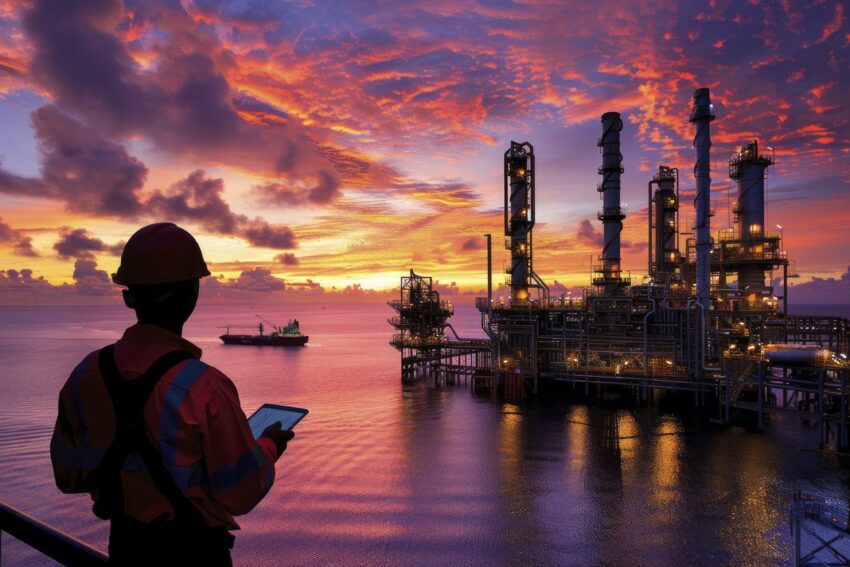É um romance avassalador, dotado de uma estrutura onde não faltam histórias que se desprendem como bonecas russas, onde o inescrutável assume proporções de uma investigação quase policial, o neto do mais genial escritor português soube que o seu avô prodigioso incendiou o manuscrito do que seria a sua obra luminescente, as coisas da guerra, porque ele combatera na região de Cabinda e no estrito círculo familiar falava de horrores, de sofrimentos incalculáveis, confessava que os companheiros mortos lhe eram presenças fantasmáticas.
O maestro da narrativa é o neto, mas há também a avó, as tias-manas, a estranha companheira do avô em fim de vida, a governanta, as lembranças da mãe, prematuramente falecida, cuja ausência é sublinhada há anos por um quarto trancado na casa do avô. Enfim, enigmas em catadupa. Falecido o escritor que era uma instituição nacional, a quem só fugira o Nobel, era esse ponto de África que corria o risco de se transformar numa lenda, ele nunca escondera em público e em privado que aquela guerra era trauma que não se apagava. Será que o grande escritor não deixara uma cópia da sua obra mais esperada?

O escritor nomeia como testamenteiro este neto, ele abre-nos a porta à sua infância, à vida agitada por que passara a mãe, uma quase vagabunda, vivera em comunidade lá para os Algarves, numa atmosfera de indecências. Assim vai detonar uma narrativa de presente e passados, em ritmo turbilhonante: O Último Avô, por Afonso Reis Cabral, Publicações Dom Quixote, recentemente dado à estampa.
O leitor não desarma porque a narrativa do neto é enleante, urdida de diálogos surpreendentes, rapidamente de agiganta aquele escritor tirânico, mitómano e confabulador, há sempre tempestades nos diálogos entre escritor e a sua mulher, um escritor cheio de lábia apetrechado de marketing. “Os jornalistas perguntavam-lhe se escreveria sobre Angola. Quando não lhe perguntavam, ele mesmo encaminhava a conversa, dizia que sim, um dia sim, quando estivesse à altura do tema escreveria tudo o que vira e fizera, o quanto sofrera. Ele sabia o que significava ter a G3 por confidente. Por enquanto, a arma continuaria a única guardiã das suas mágoas.”
A mãe do narrador, conhecida por Formiga, parecia destinada a ser mais do que a confidente do genial escritor, talvez uma sucessora. Acabara por ser a grande deceção do escritor e do pai. Neto e avó convivem felizes numa casa em Azeitão, já a avó se libertara do tirânico marido. O avô faiscava admirações, daí Regina, aquela companheira muito mais nova. É à filha mais nova, a Formiga, que ele conta os seus segredos africanos. Chegava a agir brutalmente em meio familiar, o genial escritor é bem capaz de atrocidades e truculências como esmagar pássaros bicos de lacre. Seria reminiscência do que ele passara na guerra?
O neto lança-se na investigação, pretende saber se existe ou não um manuscrito. Há fotografias africanas, o avô contara histórias sobre certas mulheres, ele que dizia: “Nós éramos miúdos que achavam que eram homens. A recruta bárbara meteu-nos na cabeça que éramos homens. Nas éramos miúdos que, ao fim de seis meses de uma dureza insana, tinham de ir para a guerra a achar que eram homens. Ainda hoje os admiro, amo-os, aos meus camaradas. Deram o que tinham, tantos deram tudo. E só tinham a juventude para dar.”
Aquele avô quis fazer do neto escritor, foi mais um desencontro, o genial escritor viveu desencontros familiares em alta voltagem. A pesquisa do manuscrito é desmesurada: nos dezassete mil volumes da biblioteca, abanaram-se molduras, bateram-se nas paredes à procura de fundos falsos, as gavetas dos móveis, os ficheiros dos computadores, as pastas de arquivo. Nada. Há mais histórias do avô, uma muito comovente, já na atmosfera da guerra civil em Angola, envolvendo Zacarias, a Jóia e a Estrela da Piedade. O neto é pressionado pelas tias-manas e pelo editor, por Regina e pela sua amiga Cecília, havia que descobrir o mais perfeito diamante da herança literária do genial escritor.
Este romance de Afonso Reis Cabral atravessa três gerações. Estou absolutamente seguro de que será procurado avidamente por gente de todas as idades. Mas haverá um segmento desse público que lhe ficará profundamente agradecido por um parágrafo inspirador, talvez único em toda a literatura portuguesa contemporânea, é uma homenagem rendida aos antigos combatentes:
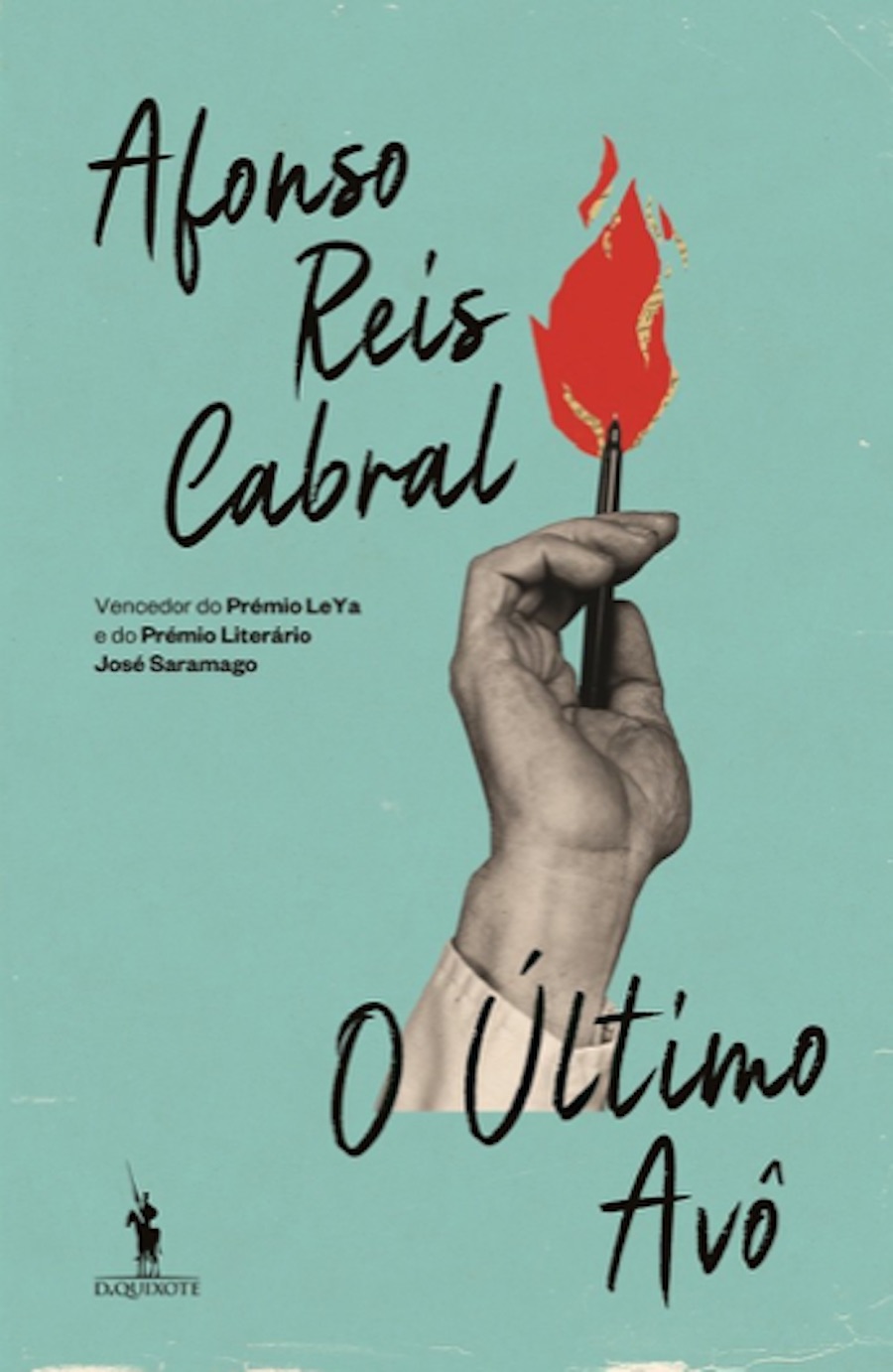
“Restam uns trezentos mil soldados da velha guerra. A estatística manda que os encontremos na rua, na sucursal do banco ou dos correios, nos cafés. Frequentam os transportes públicos e sentam-se ao nosso lado na Loja do Cidadão. São eles que conversam entre si durante horas nos bancos de jardim. Uns falam alto, outros perderam a voz. Suspeito de que muitos dos que agarramos pelos pulsos e tornozelos às camas dos hospitais, e que bradam como cercados pelo inimigo, também sejam antigos combatentes. Alguns escondem-se à paisana de velho e à paisana de soldado: como ninguém lhes dá mais de setenta anos, não parecem velhos o suficiente e ninguém desconfia de que combateram em África. Outros entraram em lares.
Vivem nas nossas casas, comem da nossa comida, bebem da nossa água e despejam os mesmos autoclismos. Usam o nosso papel higiénico. Se os observarmos com amor e algum cuidado, espantamo-nos e compreendemos que são nossos pais e avós e que, enquanto não morrerem, estão vivos; ao mesmo tempo vivos e invisíveis, porque são velhos e não olhamos, porque são veteranos e não ligamos.”
Não estou aqui para contar o desenlace de toda esta investigação, acreditem que será inesperado, o neto percorre arquivos, até pede uma entrevista a um camarada do genial escritor, o retrato do ex-alferes Anselmo Baltazar é outro primor literário. Fica-se a saber a verdade de tudo. É um neto queixoso, justamente iracundo, que irá preparar a vingança da História, e paradoxalmente tornar mais grada a lenda do tão esperado romance que não conhecerá a luz do dia. Como tudo isso aconteceu é matéria para que o leitor se encontre com este romance inovador em que a Guerra Colonial anda obsidiante entre a verdade e a mentira.
Uma obra-prima.
Leia também: Entre as doenças da criança, falemos da amigdalite | Por Mário Beja Santos