Há quem pretenda que vivemos num país estável, moderado, seguro, equilibrado, enfim, dir-se-ia num autêntico «jardim». Mas essa imagem resiste cada vez menos ao confronto com certas realidades observadas.
Basta olhar para a crise que se vive no domínio da habitação ou para a emigração jovem, em particular de quadros qualificados, em que o país investe na sua formação, mas, depois, não lhes oferece condições para permanecerem: emprego estável, salários compatíveis com o custo de vida, perspetivas de progressão. Não se trata de um fenómeno novo, mas assume hoje contornos especialmente preocupantes num país envelhecido, que precisa desses jovens para garantir sustentabilidade económica e social.
No funcionamento do Estado social, os sinais de desgaste são evidentes. O sistema de saúde enfrenta encerramentos de urgências, tempos de espera excessivos e falta de meios humanos e materiais. As pensões, em muitos casos, são insuficientes para assegurar uma vida digna, obrigando muitos idosos a escolhas impossíveis, como adiar cuidados de saúde. A resposta pública às necessidades da população mais envelhecida continua aquém do necessário, criando espaço para soluções informais e, por vezes, indignas.
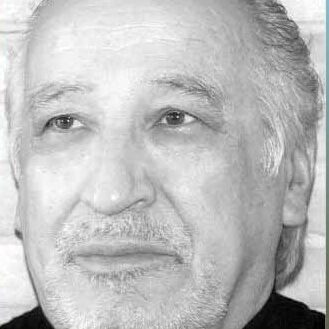
Jurista
O que verdadeiramente causa perplexidade é a dificuldade dos partidos que têm tido responsabilidades governativas em assumirem uma reflexão séria sobre as suas próprias responsabilidades
Também na educação e na justiça surgem fragilidades difíceis de ignorar. A falta de professores em várias disciplinas compromete a continuidade do ensino e agrava desigualdades. A morosidade dos tribunais, sobretudo no contencioso administrativo e fiscal, enfraquece a confiança no Estado de direito e na capacidade do sistema em resolver conflitos em tempo útil.
E mesmo em momentos de tragédia, quando o país mais precisa de respostas eficazes, voltam a revelar-se fragilidades que já não podem ser ignoradas, como as falhas de comunicação entre operacionais que vimos nos incêndios de Pedrógão Grande e que voltaram a ocorrer agora, apesar dos anos passados, durante a tempestade Kristin.
A estes problemas soma-se uma perceção persistente — justa ou injusta, mas politicamente relevante — de promiscuidade entre poder político e administração pública. Nomeações em regime de substituição, concursos adiados, recurso frequente a contratações por ajuste direto: práticas que alimentam a ideia de que o acesso a posições e oportunidades depende mais das ligações certas do que do mérito. Mesmo quando não correspondem a ilegalidades, estas perceções corroem a confiança nas instituições.
Neste contexto, o surgimento de discursos populistas e demagógicos não deveria surpreender. O populismo raramente nasce do nada: cresce quando as instituições falham, quando a política parece distante e quando os cidadãos sentem que o sistema não lhes responde, beneficiando do descontentamento acumulado.
O que verdadeiramente causa perplexidade é a dificuldade dos partidos que têm tido responsabilidades governativas em assumirem uma reflexão séria sobre as suas próprias responsabilidades. Em vez disso, assiste-se frequentemente a um jogo de acusações mútuas, como se cada um fosse apenas herdeiro dos erros do outro. Esse exercício de “lavar de mãos” não esclarece, não corrige e não reconquista confiança.
Ao recusarem um balanço crítico do seu percurso governativo, esses partidos acabam por alimentar precisamente aquilo que dizem combater. Porque cada falha não reconhecida, cada problema empurrado para o adversário, reforça a narrativa de que “são todos iguais” e que o país é incapaz de se reformar.
Talvez esteja na altura de abandonar a tranquilidade da metáfora e olhar com mais rigor para o estado real do terreno. Porque o futuro da democracia não depende apenas de conter os populistas — depende, sobretudo, de corrigir as condições que lhes permitem prosperar.
Leia também: Exemplos vindos de cima | Por Luís Ganhão

















