Há uma ideia confortável que continua a ser repetida: a de que os media informam e que eventuais enviesamentos resultam de erros, excessos ou falhas individuais. É uma boa história. Mas é falsa — ou, no mínimo, profundamente incompleta.
Os grandes grupos económicos que hoje dominam o setor da comunicação social não investem em jornais, televisões ou plataformas digitais por amor à verdade. Investem porque os media são instrumentos de poder. Moldam perceções, normalizam escolhas políticas e delimitam o que pode ou não ser discutido com seriedade no espaço público.
É neste sentido que Noam Chomsky e Edward Herman falaram da “manufatura do consentimento”. Não como conspiração secreta, mas como funcionamento normal de um sistema onde a informação passa por filtros muito concretos: propriedade, publicidade, fontes oficiais e proximidade ao poder económico e político.
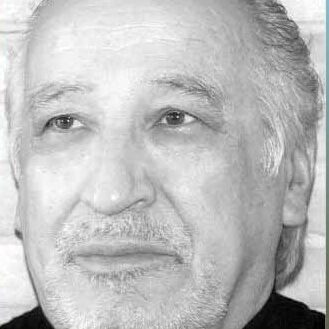
Jurista
A questão central não é se os media mentem. É mais incómoda: o que fica sistematicamente fora do enquadramento? Que interesses nunca são verdadeiramente questionados? E porquê?
Fala-se muito de independência editorial. E ela existe — mas dentro de limites claros. Nenhum grande grupo de comunicação tolera, de forma continuada, linhas editoriais que ataquem os seus próprios interesses estruturais. Não é preciso censura explícita. Basta escolher bem quem dirige.
Os jornalistas que chegam a cargos de direção sabem isto. Sabem onde estão as fronteiras. Sabem que certos temas podem ser abordados, desde que não sejam levados longe demais. Sabem que há perguntas que se fazem e outras que ficam por fazer. Quem não sabe — ou insiste em não saber — raramente chega a esses lugares.
O resultado não é silêncio, mas encenação de pluralismo. Debates existem, opiniões divergem, polémicas inflamam-se. Mas quase sempre dentro de um campo bem delimitado. Discute-se como gerir crises, não quem beneficia delas. Debate-se a escassez de habitação, mas evita-se a financeirização do imobiliário. Fala-se de sacrifícios inevitáveis, raramente de interesses protegidos.
Vivemos, assim, rodeados de informação e pobres em alternativas reais. O problema não é a falta de vozes, é a desigualdade dos megafones. Algumas ideias são amplificadas até parecerem senso comum; outras são tratadas como ingénuas, perigosas ou simplesmente irrelevantes.
Num contexto de medo, ansiedade e saturação informativa, este modelo funciona ainda melhor. Um público cansado não precisa de ser convencido — basta ser guiado. O consentimento deixa de ser imposto e passa a ser aceite com alívio.
A questão central não é se os media mentem. É mais incómoda: o que fica sistematicamente fora do enquadramento? Que interesses nunca são verdadeiramente questionados? E porquê?
Num mundo assim, o pensamento crítico não é radicalismo. É higiene democrática. E talvez o primeiro passo seja abandonar a ilusão da neutralidade e começar a olhar para a informação como aquilo que ela é: um campo de disputa, atravessado por poder, interesses e escolhas — mesmo quando estas se apresentam como naturais.
Leia também: Como o aparelho descobriu que afinal sempre acreditara | Por Luís Ganhão

















