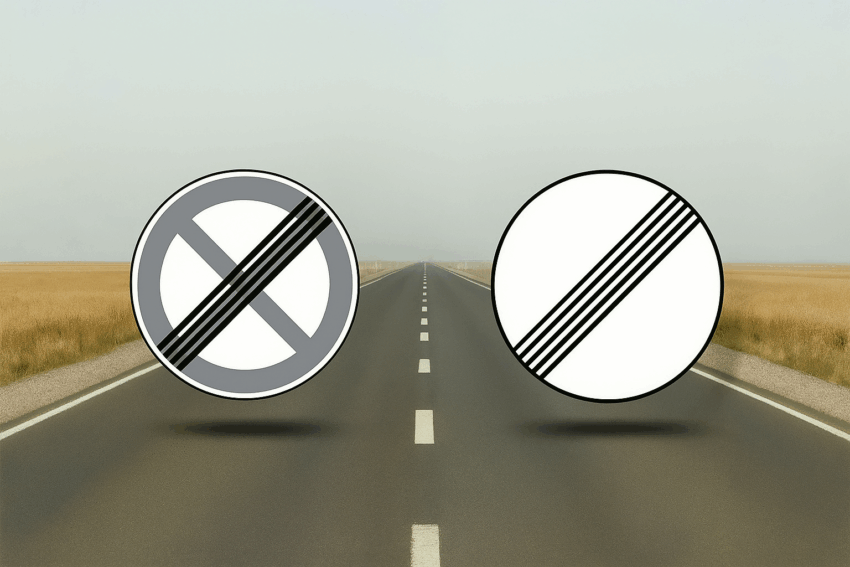Não pretendo incorrer um murmúrio de cortesias, nem num eco de piedosas nostalgias. Tampouco o reflexo do individualismo moderno. Talvez seja apenas isto: a celebração de uma ausência — a de uma presença que nos habituámos a sentir por perto.
Gestos de rutura com a tradição
Francisco começaria pelo gesto. Um gesto pequeno, mas com o peso simbólico de um terremoto de magnitude suficiente para abalar séculos de convenções: recusou o palácio pontifício e foi viver na Casa Santa Marta.
Recusou o luxo, o salário e os sapatos vermelhos — sinais de um poder distante — e preferiu o conforto discreto de quem anda e vive entre os seus. Assim se anunciava um pontificado despojado, humano, quase terroso, despojado do ouro e de pompa.
A sua revolução não vinha do púlpito, mas da linguagem. Não nasceria de discursos inflamados, mas de um código diferente, de uma coragem serena.
— “É preferível viver como ateu do que ir todos os dias à igreja e passar a vida a odiar os outros” — dizia, com a serenidade de quem não teme o escândalo.
Pouco depois, lançava outra provocação:
— “Há cristãos que falam com Deus como papagaios.”
E muitos fiéis se viram refletidos nas contas do rosário, presos à rotina das palavras que já não rezavam, apenas repetiam. Francisco tinha o dom de dizer o óbvio — e, por isso mesmo, de o tornar revolucionário.
Quem fala com o Alto como um papagaio não percebe que o divino é magma, movimento tectónico, que está em constante construção. Que o céu é mais vasto do que a imaginação dos homens que insistem em moldá-lo à sua imagem e semelhança.
Depois, viria o ataque à “coscuvilhice”:
— “A má-língua é como uma faca. Os coscuvilheiros são terroristas — atiram a bomba e vão-se embora.”
Na Praça de São Pedro, Francisco lembrava o oitavo mandamento como quem ergue um espelho. E nesse espelho, muitos se terão reconhecido.
O Papa que pedia desculpa
Francisco não era o Papa que acusava. Era o homem que pedia desculpa — e pedia, com simplicidade, que rezassem por ele.
Acolheu os homossexuais, condenou a criminalização, apoiou uniões civis, permitiu bênçãos. Não alterou a doutrina, mas reescreveu o gesto.
Quando usou a infeliz expressão “demasiada bichice”, o Vaticano apressou-se a lamentar. Ele também o fez, e de modo sincero. A humildade era, nele, bem mais forte que a absurda infalibilidade papal.
Era fácil gostar dele. Misturava-se com o povo como se sempre tivesse pertencido à rua, como se fosse mais natural estar na rua do que no altar.
E eu, feito agnóstico, dava por mim a querer compreendê-lo — talvez porque, nele, a fé parecia hospitaleira e não uma fronteira.
A Igreja de portas abertas
— “Na Igreja há lugar para todos, para todos!” — repetia, e o eco desse “todos” abria frestas de luz num edifício antigo.
Francisco falava sem citar filósofos, sem se esconder em dogmas. Falava da vida e dos homens, num saber vivido, feito de chão, de conversa, de mundo.
A fronteira e o medo
Entendeu antes de muitos que, para os Estados, um refugiado é um irmão isolado; mas milhares de irmãos constituem uma ameaça. Sabia que o mar que engole migrantes e os camiões que os asfixiavam são os mesmos que alimentam a indiferença.
É fácil chamar “aventureiros” aos que fogem da fome, esquecendo que a fome não tem horizonte. E Francisco sabia que a pobreza mata tanto quanto a guerra. Daí ter recusado uma confortável neutralidade diante do sofrimento humano.
No seio dessas aventuras, todas as crianças de Gaza se tornaram números. E números não choram.
Nós, europeus, continuamos a confundir conforto com moralidade. Preferimos as nossas queixas domésticas e os feriados longos. Falamos de liberdade enquanto tratamos a empatia como um raro luxo.
Esquecemos que viemos todos de África, que fomos migrantes antes de sermos cidadãos.
Defendemos fronteiras como animais — e esquecemos que os animais não conhecem justiça.
Enquanto isso, a Europa das alcatifas e dos sofás de veludo insiste em envelhecer só, diante do espelho, sem coragem para o admitir.
A força mansa da liderança
Viver sob a influência de Francisco era como preparar-se para assistir ao futuro a abrir caminho no presente. A sua voz, doce mas firme, convidava à aventura de viver com espanto.
Não reclamava autoridade; perguntava, com humildade:
— “Quem sou eu para julgar?”
Falava da família com uma ternura desarmante, ao ponto de nos fazer corar pela pressa com que escondemos os nossos velhos em lares assépticos.
E, ao mesmo tempo, enfrentava a dor mais funda da Igreja: o abuso e a hipocrisia. E enfrentou, sem desviar o olhar, o lado mais sombrio da Igreja — os abusos sexuais, a hipocrisia, o silêncio.
Sabia que a fé, quando esquece a carne, transforma-se em caricatura de si própria.
O adeus
Eu, turista da fé, olhava-o com a curiosidade de quem não acredita, mas quer entender.
É que, com ele, o futuro parecia mais próximo, quase tangível.
Nos últimos tempos, Francisco parecia cansado — como quem carrega o peso do mundo aos seus ombros. Pedi aos céus que o deixassem ficar mais um pouco.
O mundo precisava dele para continuar a imaginar a positividade da experiência humana. O mundo precisava de quem nos ensinasse a imaginar o futuro com compaixão.
Quando partiu, senti-me órfão de uma esperança emprestada.
Quis chamá-lo de volta:
— “Não se vá embora, não?”
Mas ele foi. E talvez, por isso, ainda hoje ainda o esperemos — não mais no Vaticano, mas dentro de nós, onde o humano insiste na vontade firme de virmos a ser melhores.
Leia também: Carta Aberta aos Supremos Magistrados do Condado Portucalense | Por José Figueiredo Santos