
e Investigador do CLEPUL
Tornado, de Teresa Noronha, foi publicado pela Editora Exclamação em Março de 2021. Vencedor da 1.ª edição do Prémio Literário Maria Velho da Costa, criado pela Sociedade Portuguesa de Autores, e incluído no Plano Nacional de Leitura, o promissor romance de estreia da autora foi novamente distinguido em Portugal, há semanas, com o Prémio PEN.
Carta a um tempo perdido
Começa assim: “Soube anos mais tarde, quando vasculhava nos arquivos do Notícias à procura de alguma maldita crónica ou sinal daquele dia, com os jornais abertos à minha frente, que varri de trás para a frente e de frente para trás, sem encontrar qualquer sinal especial e nem mesmo o menor traço necrológico, notícia ou fotografia como se a tua morte fosse, mais do que anónima, ignorada. Mas soube aí, com surpresa – e talvez esse facto possa desenrolar o primeiro fio deste novelo que se emaranhou depois da tua morte – que o quarto dia do mês de outubro de 1983, em que decidiste pela enésima e derradeira vez deixar o mundo, pertenceu àquele estranho ano em que as acácias se esqueceram de florir.” (p. 11)
A ação passa-se em Moçambique, mais propriamente em Lourenço Marques, com passagens ocasionais por Lisboa, durante os anos da independência e da convulsão que foi o parto dessa nação. O tornado do título descreve assim o turbilhão da vida em geral, a dor que nos dilacera e nos move, ou ainda a revoada de acontecimentos que acompanham o nascimento de uma nação.

Tornado não segue propriamente uma estrutura epistolar, mas desenrola-se como uma longa carta de uma mulher ao irmão, dois anos mais velho, que se suicidou. Vinte e cinco anos depois, quando se abriu a cova e se recolhem as ossadas do falecido, a narradora enceta um longo solilóquio, em que narra a sua vida e toma o irmão como narratário, como quem de súbito desenterra também as suas memórias recalcadas. O romance configura-se assim como uma carta a um irmão desaparecido, mas também a um tempo perdido. Este texto torrentoso, sem que isso o impeça de tomar a natureza de uma prosa poética, flui em catadupa, como se a narradora procurasse recuperar os cerca de seis anos de vida em que não falou com o irmão.
Nesse ano em que o irmão decidiu matar-se, vivia-se também a guerra civil em Moçambique. Ao recontar a sua história, a narradora (cujo nome nunca será nomeado) tece assim um romance de formação, oferecendo um relato da sua vida, desde a infância à entrada na idade adulta, com o primeiro amor de juventude.
“Teço como Penélope este manto de palavras, preciso dele para me cobrir, para descobrir quem sou.” (p. 13)
História dos que ficaram
Simultaneamente, ao emparelhar a identidade pessoal com a identidade nacional, cruza a sua experiência com o parto de um país, de colónia a nação independente. Um romance original (que corremos o risco de pensar como autobiográfico) que apresenta uma perspetiva diferente de Moçambique, pois embora haja obras que trabalharam a questão da independência, vista por autores moçambicanos, ou romances que versaram os retornados – como é o caso de O Retorno, de Dulce Maria Cardoso –, Tornado traz nova luz sobre a história daqueles que decidiram ficar, apesar da incerteza e do tumulto.
“A nossa cor nunca foi a dominante. No tempo colonial não éramos brancos, éramos arraçados de monhés, canecos de cú lavado, o termo pejorativo para falar de um filho de goês e portuguesa. No período pós-colonial, eu não era negra e se, em Lisboa, me tomavam por brasileira ou por cabo-verdiana, já em França perdiam-se em cogitações sobre de onde seria e espantavam-se quando descobriam que era africana.” (p. 38)

Acresce ainda que a perspetiva da narradora, nascida da união entre pai goês e mãe portuguesa, é excêntrica. Nascida em Moçambique, embora tenha estado algum tempo em Lisboa quando era ainda muito nova, é a partir de fora, de alguém que se sente uma estranha no seu próprio país, e na sua pele, que a narradora recapitula alguns dos momentos-chave como pano de fundo à sua história e às memórias familiares. A estranheza que sente na pele é agudizada pelo “medo associado à cor de pele, o medo de existir” (p. 37). É em vão que a narradora deseja não ter pele, tornando-se invisível.
A um sentimento de não pertença, e à perda do irmão, alia-se ainda um sentimento de orfandade, por uma mãe que a rejeita desde muito cedo, entregando-a ao fim de um ano aos cuidados da avó (alegando que a filha a rejeita), e pela sensação de uma família pulverizada pela morte do seu irmão.
Anos depois, esta jovem que se sente estranha na sua pele e na sua terra, torna-se errante, vivendo alguns anos em França. Além da família, de raízes dispersas, são igualmente nómadas várias das personagens que cruzam o romance, como por exemplo o professor por quem ela se apaixona.
Realismo mágico
Num primeiro capítulo bastante pungente, com a dor provocada pelo luto do irmão, por uma perda reavivada com o desenterrar dos seus ossos, sente-se ainda assim laivos que aproximam a narrativa de um realismo mágico. Acontece assim quando se abre a narrativa com um acontecimento que se pode julgar insólito, como aliás o adjetivo reforça, nesse “estranho ano em que as acácias se esqueceram de florir” (p. 11). Ou quando se evoca uma memória de um fuzilamento. Ou ainda, no final do segundo capítulo, quando a narradora, que vê o mundo pelos olhos do seu eu criança, enuncia que, ao chegar ao aeroporto de Lisboa para viajar de regresso a Moçambique, “esperei inutilmente que a sala imensa de chão de mármore onde nos encontrávamos descolasse e nos levasse a todos pelos ares ao longo dos dez mil quilómetros, como um gigantesco tapete voador telecomandado por um deus compassivo” (p. 30).
Dores de crescimento
Da mesma forma que a narradora nos conta as suas dores de crescimento, com a primeira menstruação, ou a descoberta da sua sexualidade aos 16 anos com um professor mais velho, intenta uma revisão histórica do país que a viu nascer e que ela vê renascer.
“E naquela noite de 25 de Junho do ano de 1975 voltámos a nascer. Com outra identidade, noutra condição. Na noite em que morreu o país onde nascemos e do seu corpo morto brotou um outro, dançámos desajeitados ritmos que não nasciam dos nossos pés, mas que celebravam um país que inventaram para nós.” (p. 31)
A narradora ao relatar a sua vida, fá-lo naturalmente com a sapiência da mulher em que se tornou. Há várias passagens em que faz mesmo essa cisão entre a experiência de então e o conhecimento depois adquirido.
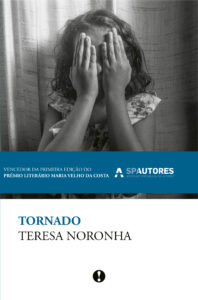
“Os contentores levam os despojos dos colonialistas. Os despojos de 500 anos de pilhagem. Os colonialistas fogem que nem ratos. Sabemos lá nós, com 10 anos, o que são colonialistas? Deve ser muito feio, pela forma como o dizem, pensas tu ao ouvires o insulto que te dirigem.” (p. 101)
Mais ainda, há um discurso subtilmente historiográfico, onde também não se poupam críticas quer à ex-colónia quer ao colonizador, em que se considera como os factos agora narrados nem sempre pertencem ao registo oficial:
“Os relatos parcos do único jornal da época em Moçambique também me dão conta de que estávamos nesse ano em plena guerra civil, ainda que não se encontre esta palavra em nenhum.” (p. 12)
Tornado é ainda, e sobretudo, um romance intimista, emotivo, nem sempre cronologicamente linear, ainda que os acontecimentos históricos da independência moçambicana irrompam como pano de fundo:
“7 de setembro de 74. O edifício da Rádio Clube de Moçambique, a poucos metros da nossa casa, foi tomado. Há um grupo de militares, brancos, de Forças especiais, que se recusa a entregar o país. Os Acordos de Lusaka estão marcados para esse dia” (p. 102)
Teresa Noronha nasceu em Moçambique em 1965. Licenciou-se em Agronomia em 1986 pela Universidade Eduardo Mondlane e, em 1988, foi para França, Montpellier, onde frequentou o mestrado em Desenvolvimento Rural. Em 1991 decide viver em Portugal, onde foi professora de Matemática, Ciências e Francês, em Lisboa e em Angra do Heroísmo. Começa a trabalhar como tradutora (1996) e, posteriormente, em edição de livros na Editora Fim de Século (1999) e Íman Edições (2000-2004) de que foi uma das sócias fundadoras. Traduziu vários romances do francês para a editora Teorema. Um curto vestido de Festa, de Christian Bobin, editado pela Barco Bêbado, é uma das suas mais recentes traduções.
Em 2004 regressa a Moçambique e trabalha como editora na Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa. Neste âmbito, deu um impulso à edição de livros infanto-juvenis em Moçambique e as suas iniciativas editoriais têm marcado o panorama gráfico deste país.
















