
e Investigador do CLEPUL
Arquibaldo é o primeiro romance do letrista Carlos Tê (Carlos Alberto Gomes Monteiro) a integrar o catálogo da Porto Editora, e o segundo romance do autor depois de O Voo Melancólico do Melro.
Francisco Frade trabalha como assistente social de uma junta de freguesia na periferia do Porto, em bairros difíceis. Rodeado de pessoas a quem assiste, ocasionalmente reconhecido, fugitivo de compromissos sérios das várias mulheres com quem se envolve, Francisco ora se imagina como um cavaleiro andante ora tem uma “sensação de queda numa brecha da realidade” (p. 33). Uma visão que o persegue de quando em quando e que parece funcionar como metáfora do peso da realidade que o envolve, de miséria, pobreza e vidas perdidas que ele tenta remendar.
“A assistência social é o nome dado ao acolchoamento da miséria, o bastão que repele o caos” (p. 27)
Entretanto, para sanar a visão desse buraco de realidade, Francisco começa a ter sessões de divã com o doutor Pombeiro. Acresce que o nosso protagonista cria como alter ego Arquibaldo, “cavaleiro da Casa do Bem” (p. 21), uma figura que inventa para manter a coesão da realidade.
Narrada na terceira pessoa, a narrativa é pontuada pelos pensamentos íntimos do protagonista, demarcados a itálico, no livro, assim como pelos seus estranhos sonhos.

Francisco Frade terá começado a trabalhar em serviço social nos seus primórdios: “No princípio, ao declarar-se assistente social, Francisco induzia uma certa perplexidade no ouvinte, como o social fosse uma ressonância sem qualquer possibilidade de assistência, mas o termo perdera o seu cunho bizantino e entrara na linguagem corrente” (p. 62)
Entretanto ganhou fama e as pessoas reconhecem-no da televisão por certos casos que vieram a público.
“A Junta acabava de ser mencionada no boletim da OCDE como um dos vinte organismos europeus de poder local mais atentos à desigualdade. (…) Juncal desculpou-se: o trabalho de Francisco reverberava na imprensa e punha a Junta nas bocas do mundo.” (p. 85)
Mesmo que o poder local não lhe dê o devido crédito, ainda que outros o apelidem de “São Francisco do Lagarteiro” (p. 86). O seu trabalho é também, aliás, um pouco refratário ao sistema. De forma geral, Francisco evita prisões, quer na cama, quer na vida, pois nele parece residir uma “zona de despojamento interior onde ser proprietário de casas era uma sobrecarga desnecessária do espírito” (p. 57).
Romance disperso, quase polifónico, profundamente lírico por vezes, traça o retrato de uma realidade caótica e desfigurada, onde figuram geralmente os marginalizados (prostitutas, homossexuais, drag-queen). A visão da sociedade é, por vezes, cáustica:
“Não vá na cantiga de dar cultura ao povo para o libertar. O povo não quer ser livre, quer dinheiro no bolso.” (p. 87)
As primeiras páginas do livro remetem o leitor para um ambiente medieval, sendo que essa sensação de Idade das Trevas não se dissipa completamente, transparecendo ocasionalmente em algumas passagens:
“Não mais povoléu feio, campesinato desenraizado subsistindo na faixa da indústria, lúmpen emprestando esquinas com um rasto de bedum e álcool, mas povo escolarizado e anunciado pelas profecias, emulando a beleza dos ricos nas novas lojas de pronto-a-vestir, ensaio do pavão pop, do parvenu digital sacudindo a consciência de classe da gola da samarra como caspa da História” (p. 73).
Transmite-se assim a sensação da pobreza ou da miséria humana como mal que grassa pelo mundo é milenar e nunca se resolve completamente mesmo naquilo que hoje se entende como uma Europa civilizada. O próprio Francisco, a certa altura, começa a ver-se não tanto como o cavaleiro andante Arquibaldo, mas mais como um judeu errante, um “nómada” em busca das suas raízes judaicas. Essa busca interior leva-o por fim numa peregrinação, em busca de respostas, como que a testar a herança deste povo: “erram pelo mundo sem pertencer aos lugares, o pensamento livre é o seu pátio” (p. 190).
É curioso notar como o diálogo entre Francisco e o seu “psicanalista” se reveste de ironia e humor. Ainda que o nosso herói tente iludir o doutor Pombeiro, “com raciocínios erráticos e entremeados por sonhos recorrentes” (p. 83), este construiu uma chave de decifração para o seu perfil. As respostas do doutor Pombeiro são por vezes dignas de um poeta ou um filósofo, ficando a ressoar no espírito de Francisco: “O desapontamento é proporcional às expetativas da paixão inicial, procurar no outro o nosso reflexo é o ardil narcísico clássico, amar é incluir o diferente e ampliar o conhecimento de nós mesmos” (p. 91).
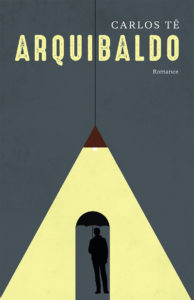
do Melro
Momentos há, sem querer intentar uma leitura forçada, em que podemos pensar nestes instantes de reflexão e de um solilóquio, com ocasionais respostas do terapeuta, como um diálogo entre autor e personagem. Afinal, naquele divã, Francisco tenta reconstruir o seu eu, a sua verdadeira persona: “Você vem cá contar uma versão da sua história porque não há a versão definitiva. A gente refaz-se na história que conta aos outros e a nós mesmos.” (p. 129)
Como nota final, um leitor atento ou mais informado pode ainda encontrar ecos de uma figura real neste Francisco, ligeiramente inspirado no Chalana, um conhecido assistente social do Porto.
Carlos Alberto Gomes Monteiro nasceu em Cedofeita, no Porto a 14 de Junho, de 1955. É um letrista e escritor português. Licenciou-se em Filosofia na Universidade do Porto. Tornou-se célebre como letrista com a edição do álbum Ar de Rock, de Rui Veloso. Participou também em discos dos Jafumega, Clã, Cabeças no Ar, Canto Nono com José Mário Branco, Jorge Palma, e José Pedro Gil. Colaborou, entre 1978 e 1981, em revistas de poesia. Entre 1991 e 1994, escreveu para o jornal Público uma série de crónicas que marcaram a sua presença no caderno local do referido jornal. Foi também cronista no jornal Expresso.
















