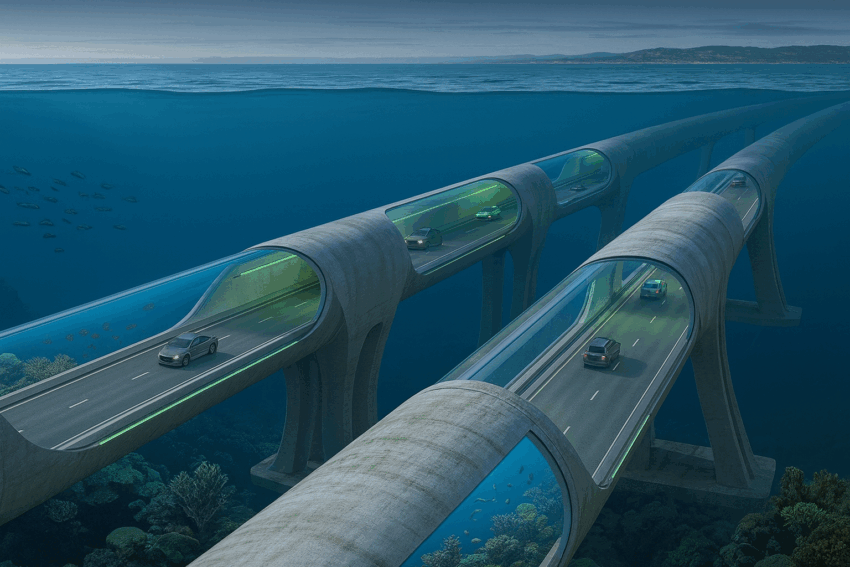A forma como são apresentados os valores da participação nas eleições devia ser revista para que fosse tida em consideração a abstenção técnica, defendem os politólogos, que apontam “alguma inércia” nas alterações legislativas necessárias para combater este problema crescente.
As legislativas de 30 de janeiro decorrem de novo em cenário pandémico, um fator que de acordo com os politólogos ouvidos pela agência Lusa aumenta a sua imprevisibilidade, incluindo em relação à abstenção, um fenómeno que tem aumentado em Portugal, e por isso, de acordo com João Cancela, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, “não poderá ser considerado surpreendente se estas forem as eleições legislativas menos participadas de sempre”.
De acordo com este especialista, o conceito de “abstenção real” (referente à ausência de participação de eleitores que poderiam efetivamente ter votado) – opõe-se ao da “abstenção técnica” (que são “inscrições espúrias” nos cadernos eleitorais), explicando que a parte mais significativa desta última é atualmente relativa a eleitores portugueses residentes no estrangeiro e não à manutenção nos cadernos eleitorais de pessoas já falecidas, “que se tem tornado mais residual desde as reformas no recenseamento em 2005”.
Não sendo possível quantificar com exatidão a abstenção técnica, João Cancela adianta que se pode “procurar uma aproximação através de indicadores alternativos como as Estimativas Anuais da População Residente ou os próprios Censos do INE”.
“Se tomarmos estas duas medidas alternativas como referência a partir das quais medimos o desvio entre os cadernos eleitorais e o número de referência, podemos estimar que a proporção de inscrições espúrias se situará algures entre os 5% (face aos Censos) e os 11% (face às estimativas da população residente)”, aponta.
Por isso mesmo, para o politólogo “é altura de rever o modo como são apresentados os valores da abstenção, ou pelo menos de complementar as metodologias clássicas com outras que permitam tomar em consideração a abstenção técnica”, propondo, por exemplo, apurar a taxa de participação entre os recenseados no território nacional e não a apresentar como um todo.
Também António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, considera ser preciso cuidado com a forma como se analisa e apresentam os dados comparativos da abstenção precisamente por causa da abstenção técnica, resultante do recenseamento automático e dos eleitores fantasma.
Apontando a falta de consenso político para encontrar soluções para ultrapassar o problema da abstenção – e para lá das discussões sobre voto obrigatório ou voto eletrónico -, o politólogo defende que poderia ser aumentado o período de votação para que os eleitores pudessem ir às urnas “durante dois ou três dias, com grande generalização do voto antecipado”.
“Existe alguma tendência para a inércia sobre o ponto de vista da alteração à legislação eleitoral”, aponta, subestimando o efeito pandemia nestas eleições.
Sobre os três fatores habitualmente associados à abstenção em Portugal, Costa Pinto elenca-os: menor participação junto dos setores da sociedade menos qualificados, a sensação que existe “o abstencionista millennial” e o facto de um sentimento “anti-partido” maior gerar mais propensão para a abstenção.
Já André Azevedo Alves, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, afirma que estas poderão ser “as eleições mais imprevisíveis desde que Portugal entrou na União Europeia”.
Com a pandemia a marcar ainda muito o contexto em que decorrem as legislativas, o politólogo refere que tradicionalmente são os setores mais velhos os que mais votam e de forma mais estável, sendo precisamente estes onde pode haver maior desmobilização devido à covid-19.
“Isso torna as eleições ainda mais imprevisíveis não só em termos de mobilização para o voto e para a abstenção, mas depois de quais podem ser os próprios padrões de voto de quem ainda assim for votar”, antecipa.
Escusando-se a dramatizar a questão da abstenção – relativamente alta em “democracias consolidadas em que não há uma polarização política extrema nem questões de regime em cima da mesa” -, André Azevedo Alves também defende que importa corrigir os aspetos da abstenção técnica “para se poder ter dados mais fiáveis”, propondo também soluções para que se tenha mais do que um dia para exercer o direito de voto e com horários mais alargados.
Abstenção galopante atingiu a maioria em 2019
Os portugueses abstêm-se cada vez mais desde as eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, excetuando em três do total de 16 sufrágios para o parlamento, tendo sido mais os não votantes do que os votantes nas últimas legislativas.
A abstenção em legislativas tem vindo sempre a subir desde 25 de abril de 1975 (o menor valor, de 8,34%) até à mais recente votação do género, em 6 de outubro de 2019 (o mais alto registo, de 51,43%).
Só em 1980, em 2002 e em 2005 houve quebras na galopante taxa de eleitores ausentes das mesas de voto, à medida que o entusiasmo com o regime democrático, após 48 anos de ditadura do Estado Novo, foi esmorecendo.
A última vez em que houve uma quebra na tendência abstencionista crescente foi em 20 de fevereiro de 2005, quando se verificou uma baixa de cerca de três pontos percentuais face à eleição anterior.
Após oito meses do governo do primeiro-ministro da coligação pós-eleitoral PSD/CDS-PP, Santana Lopes, o então Presidente da República, Jorge Sampaio, dissolvera o parlamento por “irregular funcionamento das instituições” e convocara novas eleições.
Então, os portugueses foram às urnas em maior percentagem do que três anos antes e votaram maciçamente no PS, que obteve assim a sua primeira e até agora única maioria absoluta (45%), com José Sócrates na liderança.
No sufrágio imediatamente anterior, em 17 de março de 2002, também já tinha havido um recuo da abstenção face às eleições anteriores, desta feita ligeiríssima (menos de uma décima percentual). Foi quando os eleitores lusos foram chamados a pronunciar-se depois de o então primeiro-ministro de um segundo Governo minoritário socialista, António Guterres, pedir a demissão para evitar o “pântano” político, após perder as eleições autárquicas de dezembro de 2001.
Na altura, a vitória sorriu ao PSD de Durão Barroso, com 40,2%, seguido do PS (37,8%) e do CDS-PP (08,7%). O então líder social-democrata viria a deixar o executivo conjunto com o democrata-cristão Paulo Portas para seguir para a Comissão Europeia, ficando então Santana Lopes no posto de primeiro-ministro, apenas por escassos oito meses até Sampaio recorrer à “bomba atómica” devido à sucessão de remodelações e demissões em vários gabinetes e magistraturas da administração pública protagonizados pelo entretanto fundador e presidente do Aliança.
Antes, é preciso recuar 42 anos para encontrar nova quebra da taxa de abstenção: dois meses antes de morrer na queda de um avião em Camarate, o social-democrata Francisco Sá Carneiro conseguiu o seu segundo triunfo seguido com a Aliança Democrática (PPD/CDS/PPM), em 5 de outubro de 1980.
A AD teve 44,91% por cento dos votos, à frente da Frente Republicana e Socialista (PS, União da Esquerda Socialista e Democrática e Acção Social Democrata Independente), que obteve 26,65%, e da Aliança Povo Unido (PCP, Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral), com 16,75%.
A abstenção diminuiu na altura um ponto percentual face às legislativas anteriores, com os portugueses a voltarem a confiar no líder do PPD (PSD) depois de um período com três breves e instáveis Governos da iniciativa presidencial de Ramalho Eanes, liderados, à vez, por Alfredo Nobre da Costa, Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo.