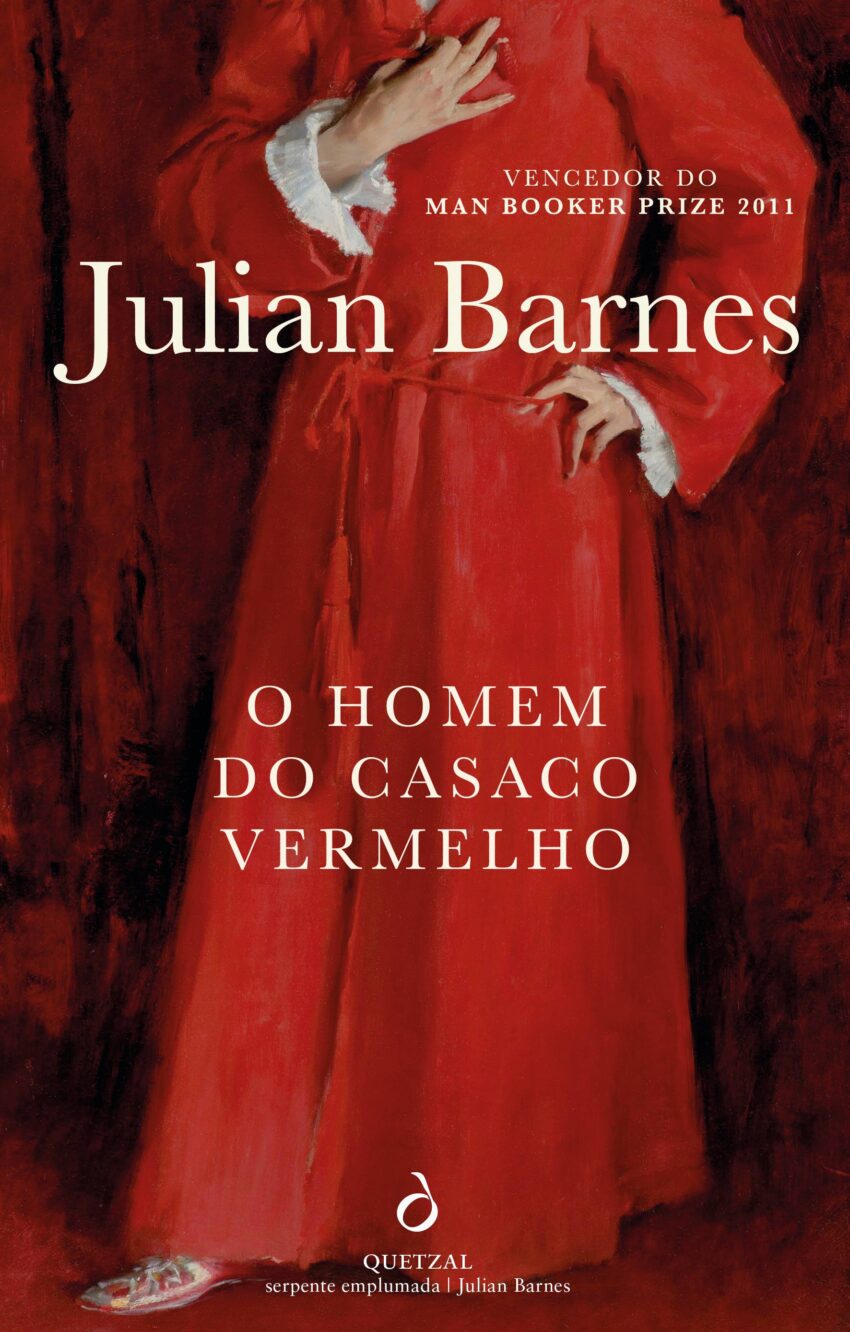Doutorado em Literatura na Universidade do Algarve
Investigador do CLEPUL
O Homem do Casaco Vermelho, publicado pela Quetzal numa luxuosa edição de capa dura vermelha, recheada de fotografias e reproduções a cores de obras de arte, é o mais recente trabalho de Julian Barnes. Este novo livro do autor britânico, com tradução de Salvato Teles de Menezes, é difícil de classificar, pois vive algures entre a biografia, o ensaio, o romance de uma época: «A Belle Époque: locus classicus de paz e prazer, charme com mais do que uma pincelada de decadência, um último florescimento das artes, e o último florescimento de uma alta sociedade instalada antes de, tardiamente, esta suave fantasia ser varrida pelo metálico e sem graça século XX» (p. 37). Por estas páginas desfilam Proust, Sarah Bernhard, Oscar Wilde, invoca-se Flaubert e Henry James, entre outros.
Julian Barnes toma por mote para esta digressão um retrato de Samuel Pozzi, considerado uma das mais extraordinárias telas de John Singer Sargent (tão polémica quanto discretamente sensual) que o autor descobriu exposta na National Portrait Gallery. Tomando Pozzi como protagonista – um plebeu com apelido italiano, «chocantemente bonito», «homem superiormente inteligente», que ascende a médico da alta sociedade, cirurgião, pioneiro da ginecologia moderna, «viciado em sexo» (p.196), livre-pensador, coleccionador de arte – este livro é um belíssimo exercício criativo e autoreflexivo (onde nos fala inclusivamente do seu primeiro romance, entre outros) que reafirma Barnes como um dos grandes autores de língua inglesa.

Um aspecto curioso que perpassa o livro é a contraposição persistente entre a cultura francesa e a inglesa, em detrimento desta última, como quando constata que a Belle Époque é um período de grandes triunfos da arte francesa, do impressionismo ao simbolismo, passando pelo cubismo: «O que é que teve a Grã-Bretanha que pudesse apresentar perante isto? A persistente saga do pré-rafaelismo, a prolongada morbidez da arte vitoriana» (p. 43).
Esta contraposição entre passado e futuro (ou um presente desencantado) serve ainda, muito subtilmente, como chamada de atenção ao que se passou no Reino Unido nos últimos anos com o Brexit: «como o passado deve às vezes odiar o presente, e o presente o futuro – esse desconhecido, descuidado, cruel, ofensivo, depreciativo e insensível futuro – um futuro que não merece ser o futuro do presente» (p. 125). Explana-se, aliás, na nota do autor, que o livro foi escrito no último ano perto da «saída deludida e masoquista da Grã-Bretanha da União Europeia» (p. 309).
Barnes recorre a excertos de diários, cartas, numa colagem que visa compôr o homem por trás do retrato, ao mesmo tempo que alerta o leitor para os limites desta reconstituição:
«”Não é possível saber”. Quando parcimoniosamente usada, esta expressão é uma das mais fortes na linguagem do biógrafo. Lembra-nos que o aprazível estudo-de-uma-vida que estamos a ler, apesar de todos os pormenores, dimensão e notas de pé de página que apresente, apesar de todas as certezas factuais e hipóteses seguras que contenha, pode apenas ser uma versão pública de uma vida privada e uma versão parcial de uma vida privada. A biografia é uma coleção de buracos atados com um fio» (p. 134)
Como escreve a páginas tantas, a propósito de Lucien Freud, o modelo, neste caso Pozzi, está lá apenas para ajudar a pintura, e conta mais a pincelada do artista do que o retratado: «diria que estava a usar uma pessoa para fazer um quadro e, ao fazer isso, estava a substituir essa pessoa – e a sua existência – por uma nova realidade.» (p. 224). Barnes assume que o «trabalho do romancista é transformar um ténue ou mesmo falso rumor numa certa e fulgurante realidade; e acontece muitas vezes que quanto menos se tem, tanto mais fácil é retirar partido disso.» (p. 52)
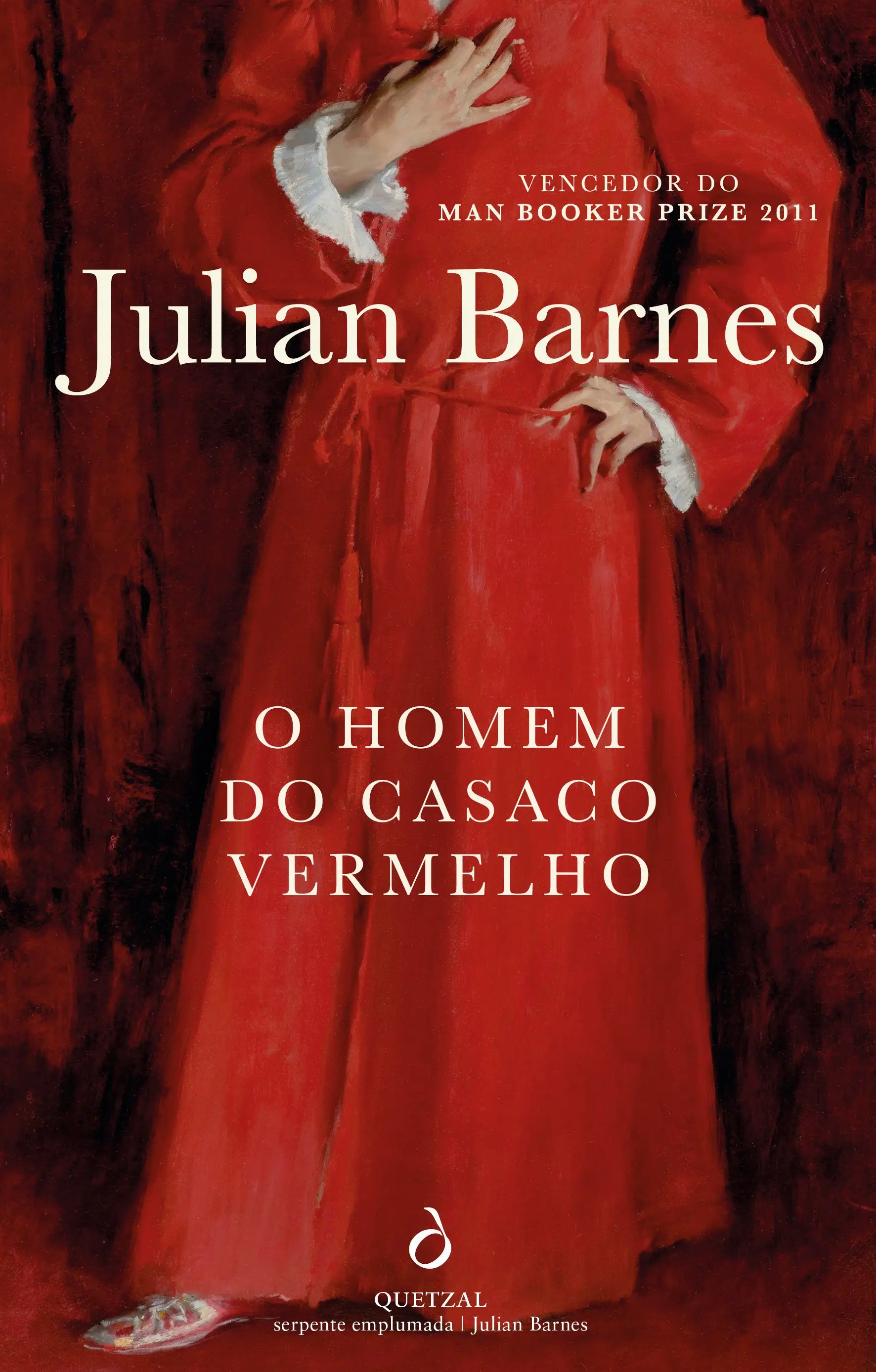
O autor/narrador (que aqui se confundem) remete-nos, noutra passagem, do roman à clefe quase pensamos que nos fala deste seu livro de não-ficção: «possui óbvias atrações para os romancistas – a alegria da malícia, a piscadela de olho do sigilo não sigiloso, a vaidade de estar bem informado e partilhar essa informação com outros» (p. 217) É, na verdade, aquilo que acontece linhas antes neste mesmo livro, quando o autor ao referir-se a um prémio literário rapidamente se perde em mais uma digressão em torno do mesmo, com os vários vencedores, o prémio, etc. Um dos pontos mais delicados do romance é justamente a forma como o leitor por vezes se perde nos saltos súbitos de um assunto para o outro, sem que haja propriamente um fio condutor, da mesma forma que por vezes avançamos e voltamos a recuar na cronologia de vida das personagens. Contudo, numa das recorrências do romance e que mais parece uma obsessão do autor – a soma de relatos de duelos e de médicos alvejados por pacientes insatisfeitos -, indicia-se uma das revelações desta biografia, já perto do final.
O Homem do Casaco Vermelho tem o ritmo e o colorido de um romance, mas é acima de tudo uma biografia, por vezes descentrando-se do modelo conforme desfia um retrato de época, e aponta constantemente para os limites do biógrafo (e os ilimites do romancista) face à aura de mistério que advém do passado e rodeia o biografado.