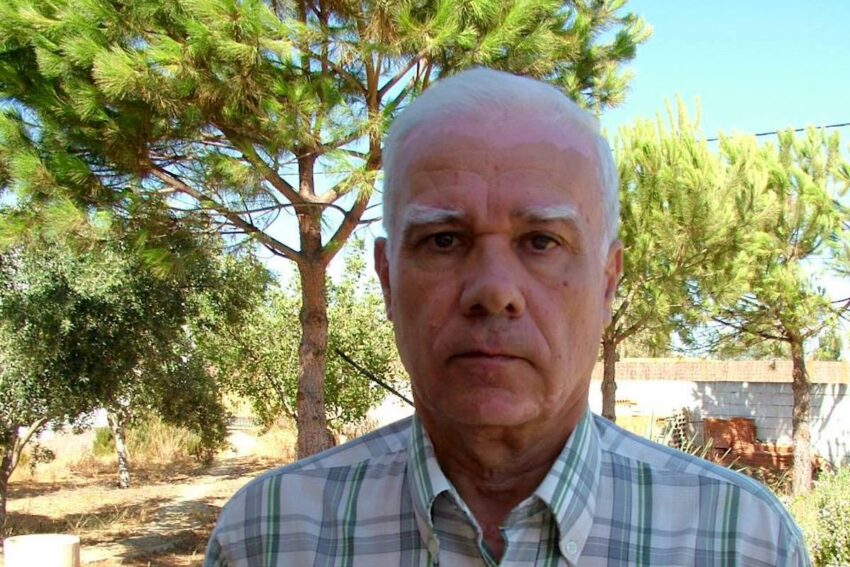Doutorado em Literatura na UAlg
e Investigador do Centro de Investigação
em Artes e Comunicação (CIAC)
O Cais das Merendas, de Lídia Jorge, autora publicada pela Dom Quixote, chega agora à sua 7.ª edição. Este segundo romance da autora algarvia, nascida em Boliqueime, e nome maior das letras portuguesas, foi publicado pela primeira vez em 1982, dois anos depois do seu romance de estreia. Foi vencedor do Prémio Cidade de Lisboa.
Os seus primeiros dois romances, O Dia dos Prodígios e O Cais das Merendas, constituem obras de fôlego, nem sempre fáceis para o leitor comum. Numa intriga pouco linear, é pedido ao leitor que junte pouco a pouco as várias peças do enigma. Se o primeiro romance versava já a Revolução, de forma alegórica, O Cais das Merendas desenrola-se em torno do tema da identidade no Portugal logo após o 25 de Abril. A ação deste segundo romance, em contraste com o primeiro, passa-se agora à beira-mar, numa praia do Sul de Portugal. Tal como no romance de estreia, há uma extensa galeria de personagens, que giram em torno de um pólo central: o Hotel Alguergue.
À luz de um certo maravilhoso efabula-se a transição de um Algarve rural e fechado para um Algarve voltado para o mundo com o advento do turismo. O que a autora faz exemplarmente é problematizar como, nesse processo de mudança e aculturação, o Algarve se arriscava perder a identidade cultural regional, um pouco como acontece agora com Lisboa depois de ter sido alvo de turismo de massas, onde também se inclui um boom de nativos digitais, o que rapidamente provocou uma alteração da paisagem da capital e que possivelmente acabaram por se cansar, à medida que a capital perdeu o seu charme típico. Foi o que aconteceu há décadas em certas cidades e vilas algarvias, em que tudo aparece pensado à medida dos turistas ingleses, entre outros.

Maria Alzira Seixo escreveu que um dos contributos fundamentais da escrita de Lídia Jorge, no exemplo concreto de O Cais das Merendas, reside na capacidade da autora de aliar «uma escrita de miúda percepção de um quotidiano regionalmente localizável (…) com a dimensão alegórica que nunca deixou de ser fundamental na sua obra» (‘In-Citações’ Marido e outros contos, de Lídia Jorge», in Outros Erros – ensaios de literatura, Asa, Porto, 2001, p. 367).
Eduardo Lourenço, por seu lado, escreveu o seguinte: “O Cais das Merendas não é apenas um dos mais originais romances do pós-25 de Abril. É uma viagem única, uma autêntica radiografia de um mundo – o nosso – colhido ao mesmo tempo na encarnação proliferante do nosso imaginário como retrato da nova quotidianidade nacional e como tempo esperado de todos os cais.”
O Cais das Merendas representa a continuidade da prometida e anunciada mudança, referida no final do primeiro romance.
Mantém-se a profusão de personagens, a indefinição do espaço e do tempo, um registo oralizante, uma prosa inovadora quer a nível linguístico, quer a nível formal, uma intriga que será decifrada gradualmente, pois o texto é sempre um pouco críptico. A estrutura do romance consiste em dez partes, com títulos tão poéticos quanto enigmáticos, a começar pelo “Marítima”, indiciando o cenário em que se situa a ação, e terminando no “Nocturna”, que pode remeter para o cair do pano, do fim do romance, assim como para o oblívio que, como veremos, se instala.
Se, por um lado, todo o romance gira em torno do que aconteceu a Rosária, personagem desvelada gradualmente, e sobre a qual nunca se diz explicitamente, de início, o que aconteceu; por outro lado, Rosária surge como a narratária do romance, pois a narrativa toma-a como destinatária. Curiosamente, atente-se ainda que a certa altura se dá a entender que este romance surge como uma crónica ou uma reconstituição feita por alguém, que toma a palavra justamente no final: “Depois chegámos nós por ouvir falar do caso e procurámos alguém que ainda não tivesse perdido a memória.” (p. 247)
O cenário de Vilamaninhos, do anterior romance, dá lugar ao sítio da Redonda, mais próximo do litoral. É nesse local que se constrói um hotel, o Alguergue, cujo nome ressoa, curiosamente, o próprio nome da província do Algarve: “De tal maneira era recente que se sabia tudo a seu propósito, todos os dados fresquinhos ali postos sobre bandeja. A razão daquele nome provinha de uma pedra achada pelo acaso de uma enxadada mais funda de cavador” (p. 45). Mais à frente, refere-se ironicamente, a razão do nome: “Foi escolhido Alguergue porque o som do corpo da palavra era capaz de lembrar um rei vizir de lábio muito grosso e virilidade muito tesa. Virilidade? Nunca lembraria uma pedrinha e não interessava a verdade.” (p. 45)
É nesse espaço alegórico de um Algarve em mudança que se centra a ação. É aí que o passado convive com a modernidade de um futuro que se anuncia e arrisca apagar a história do lugar. A dada altura refere-se que é ali que “vão construir o palácio” que dará emprego a praticamente todos as personagens da Redonda.
O Alguergue
Acerca dessa contraposição, podemos pensar como o Alguergue é, afinal, um símbolo de toda uma ocupação estrangeira, capaz de varrer a identidade daquela comunidade: “nada disto se destina a gente nacional. (…) Vêm de outras bandas. Esses para quem isto vai ser feito, e virão pela fama das águas do mar. Dizem. Parece que em nenhuma outra parte do mundo ele é assim manso, e tem esta cor natural. Por isso. Os que aí têm vindo abrem a boca até ao umbigo de admiração diante disto. E assim que o vêem, mesmo que seja dezembro, sentem uma cócega tal no pescoço e na virilha, que se desapertam e se despem de tudo. (…) Vão direitinhos a ele como a patos, sem intenção de apanhar nenhum peixe, nem de empurrar nenhum barco. Vão para a espuma do mar a gozar as ondas. Em dezembro e janeiro. Quando toda a gente tem as canelas arrepiadas de frio mal tira as meias ou arregaça as calças. E foi para poderem vir aqui lavar os sovacos todo o ano que mandaram abrir os caboucos deste hotel que se vai chamar alguergue e que é todo, todo ele, quartos de aluguer.” (p. 91)
O Alguergue, ainda que seja uma construção hiperbolizada para aquela região, não tem as dimensões de outros hotéis: “Mesmo que em vez de trezentas e tantas janelas só tivesse vinte e duas, em vez de dez andares só tivesse dois, rés-do-chão e sobrado, em vez de toda aquela dimensão de coisa imóvel, fosse apenas imitação de pequena casa apalaçada.” (p. 45)
Apesar das suas dimensões mais modestas, o Alguergue distingue-se, ainda assim, com todas as estrelas: “o Alguergue era o hotel, minha filha, com todas as estrelas possíveis na escala da categoria, em relação à europa e a todos os outros continentes” (p. 46).
O Alguergue surge como um empreendimento ambicioso (daí uma irónica comparação com o Convento de Mafra) e simboliza uma promessa de um tempo melhor, de prosperidade para todos. Daí a importância de o tornar um destino desejado para as “pessoas que pusessem o dedo sobre os cartazes distribuídos por esses países do mundo, nas estações aéreas e terrestres” (p. 45). A mudança que o Alguergue representa pauta-se ainda, não só pelos visitantes que alberga, pelas possibilidades que se abrem para os habitantes da região: “Já lá estão mais de cem, e os primeiros foram os do mar que não pegam mais nos navios tanta é a certeza de entrarem. (…) Que um homem ali podia fazer de muita coisa, desde roçar e varrer a grama de que tudo aquilo em redor ia ser plantado, até cuidar do motor da água” (p. 97)
Cópia e choque cultural
A assimilação de modelos culturais estrangeiros, como se pode notar em vários passos da narrativa, passa pelas revistas e, especialmente, pelo cinema que chega às casas dos habitantes da Redonda, pelo pequeno ecrã. São frequentes e diversas as alusões a filmes e a atores ao longo do livro, inclusivamente como forma de tentar descrever as personagens (Marlon Brando, Nathalie Wood, Omar Shariff, etc.).
Um dos exemplos mais marcantes do choque cultural entre o Algarve da serra e o Algarve da praia configura-se em torno de Santanita Cagaça, a mulher de Sebastião Guerreiro. Relembremo-nos como na comunidade isolada de Vilamaninhos (em O Dia dos Prodígios) o mar era algo nunca visto pelos seus habitantes. Santanita Cagaça representa assim um Algarve anacronicamente rural num tempo em que a região se volta para o futuro junto ao mar…
“Sebastianito Guerreiro pôde então verificar que o objecto do espanto era sua mulher legítima, Santanita Cagaça, em exibição junto às ondas. Tinha os músculos de todo o corpo muito à mostra, como raízes de árvore, e dos pés aos joelhos, das mãos aos cotovelos, era castanha como figo seco e torrado.” (p. 203)
A descrição da mulher faz uso irónico de uma série de elementos da natureza, desde as “raízes de árvore” ao “figo seco e torrado”. Para esta personagem, ver o mar, aquela imensidão de água, e ir à praia é de tal modo inaudito que leva consigo um sabonete para se lavar na rebentação das ondas: “My goodness. Pensou Sebastianito para si, sentindo a praia andar à roda. Os barcos, os banhistas e as sombrinhas faziam um carrossel de velocidade à volta das suas vistas. Sobretudo porque sua mulher se lavava de cócoras, com uma combinação de florinhas colada às ancas, e procurava desencardir-se de qualquer nódoa com um pedacinho de sabão azul, no dá-lhe que dá-lhe, corpo acima corpo abaixo” (p. 203).

Por isso, apesar desta comunidade procurar importar os modelos culturais dos cidadãos desse vasto mundo “lá fora” que passam a visitar a Redonda, a cópia é sempre imperfeita.
Apesar dos esforços caritativos dos modelos que chegam da “verdadeira europa e o grande mundo” (p. 186), a imitação é sempre um pálido reflexo desse ideal. Como refere uma das personagens: “não conseguimos imitar coisa nenhuma a preceito.” (p. 184)
O esquecimento de um passado indesejado é um aspeto que, além dos vários exemplos já apontados, aparece peculiarmente retratado na linguagem. É pela linguagem, entre o registo oralizante e a introdução de novas palavras, designadamente do inglês e francês, que se percebe a transição entre o mundo ancestral de Vilamaninhos e a nova era do turismo anunciada com a construção do Alguergue.
O apagamento da personagem de Rosária, em concreto, surge associado à sua possível leitura como uma alegoria, um símbolo de um Portugal perdido, mais concretamente o Portugal do período da ditadura, daí que se associe Rosária a esse tempo imperfeito de privações. Para nos contextualizarmos relativamente aos primórdios do turismo no Algarve, ressalve-se o aparecimento do histórico Hotel Eva, marco da cidade de Faro. Tendo o primeiro projeto sido submetido em 1960, o Hotel EVA é inaugurado a 1 de abril de 1966, justamente um ano depois da inauguração do Aeroporto de Faro: um ato pioneiro numa época em que a região algarvia era um paraíso sem infraestruturas, e as expetativas em torno do turismo e do desenvolvimento do Algarve eram grandes, num contexto de grande carência, inclusive em termos de infraestruturas. Será, portanto, seguro situar o tempo da narrativa de O Cais das Merendas entre as décadas de 60 e 70, justamente antes de se dar a queda do Estado Novo que teve o seu impacto no turismo da época.
Se no primeiro romance o meio rural era um ovo fechado, um casulo de tradição em que o tempo parecia retroceder, neste romance a abertura ao mundo acarreta riscos sérios, como o apagamento da identidade regional e nacional.
Merendas e parties
O romance abre com um ajuntamento de personagens que caminham em busca de um sítio apropriado para a sua merenda. Note-se que esta merenda, que não pode ser assim chamada, pois tal “lembraria figos” (p. 11), mas sim de party: “no tempo de quando os parties ainda não eram parties mas merendas, o que acabava de pertencer ao passado” (p. 20). Mais à frente, perto do final do livro, a merenda ou party dará ainda lugar a um barbecue.
As merendas são pertença de um tempo passado, pois este é um romance que fala do fim de um tempo: “E aí se pressentiu que a saga do tempo velho ia ter um fim tão próximo, tão próximo, que estava já a acontecer diante de todos.” (p. 100) Um passado obsoleto que traz más recordações, de tempos difíceis, carestia e fome: “nunca mais se falaria de merendas, essas pausas feitas num tempo tão esquecido, que para se comer uma perna de frango era preciso esperar pelo entrudo de cada ano, acompanhar a vida da ave desde o botar do ovo lá debaixo da pinta até ao termo do crescimento para que se matasse galo, uma faca espetada no gasgano. Jesus, como era. Para que estávamos ainda a voltar ao mesmo? Apetecia já enxotar aquela recordação” (p. 14)
O turismo ou o estrangeiro, meios para passar da miséria à fartura, permitindo-lhes inclusivamente ter mais tempo livre para merendas, não são aqui o alvo de crítica. A crítica recai na imitação apressada do outro como modelo a seguir, enquanto civilização superior, a cópia da vida como surge retratada nos filmes e revistas. O esquecimento de si e o apagamento da cultura surgem como consequências desejadas pelas personagens, e é isso que neste livro se acusa.
A escrita de Lídia Jorge continua a refletir os problemas da nossa contemporaneidade e entretece diversos aspetos sociais, sem perder o burilar lento e ritmado da linguagem poética, dando-nos um testemunho da condição humana, e, mais especificamente, da mulher do seu tempo.