
Doutorado em Literatura na UAlg
e Investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC)
A Vergonha, da autora francesa Annie Ernaux, laureada com o Nobel, é o novo livro a integrar o catálogo das suas obras na coleção Dois Mundos, com o selo da editora Livros do Brasil, com tradução de Maria Etelvina Santos.
Despir o eu, escrever com sangue
Este livro não chega às 100 páginas, pois como é habitual os testemunhos de Annie Ernaux são tão incisivos quanto concisos. E é justamente dessa forma que inicia este livro:
«O meu pai quis matar a minha mãe num domingo de junho, ao começo da tarde.»
É com esta frase que se inicia a história de uma menina de doze anos, uma forte imagem, de contornos imprecisos que depois ganham traços mais precisos, correspondendo a uma recordação que marcaria para a narradora-autora, poder-se-ia pensar, o fim da infância. Mas não, pois, paradoxalmente, será esta a imagem que parece inaugurar a sua vida:
“A primeira data precisa e certa da minha infância. Antes, existe apenas o deslizar dos dias, e datas escritas sobre o quadro da escola e nos cadernos.” (p. 12)

Esta frase corresponde ainda à primeira vez que a autora-narradora ganha a coragem de escrever sobre o assunto e, como tantas vezes acontece nos seus testemunhos, reviver a cena para a dissecar e analisar de forma profundamente íntima, pessoal, mas a que não foge uma leitura sociológica.
Era o dia 15 de junho de 1952, e a autora (que rememora a cena a partir do ano de 1995) tinha então doze anos. É também a partir dessa data que não mais deixou de sentir vergonha…
«A vergonha transformou-se, para mim, num modo de vida. No limite, já nem me apercebia dela, fazia parte do meu próprio corpo.» (p. 92)
A partir desta cena, que aparentemente configura um episódio isolado que depois se resolve, Annie conduz-nos, nas páginas seguintes, a uma descrição pormenorizada do local onde viveu e cresceu, na região de Caux, a sul do Sena, descrevendo mesmo, pormenorizadamente, as divisões da exígua casa que servia ainda as vezes de café e mercearia. Narra-nos depois a rotina no colégio interno católico onde estudou, e as jovens estavam claramente repartidas por dois edifícios, de acordo com a sua classe social.
Embora nas suas várias obras a escritora já nos tivesse dado a conhecer a sua relação com o pai e a mãe, é esta a sua primeira leitura atenta daquele tempo, numa escrita única em que funde autobiografia, sociologia, memória, história, para escrever com sangue, a partir do mais despido do seu íntimo, sobre a condição social em que se inscreve. Porque aquilo que distingue a obra de Annie Ernaux é a sua coerência e ousadia ao oferecer testemunhos pessoais que são, sobretudo, poderosas reflexões sobre o poder tão impactante quanto enganador da memória, sobre o papel indelével do nosso passado, e a forma como raramente conseguimos realmente fugir aos eventos que nos assolaram.
Linguagem como condição social
A Vergonha poderia remeter-nos para obras como Regresso a Reims, mas aquilo que em Didier Eribon é superação, em Annie Ernaux resume-se a uma mácula; a ascensão da jovem Annie D. a mulher, escritora, bem-sucedida (e, algumas décadas depois, vencedora de um Nobel) não parece ter resolvido a condição da vergonha. Ao ler este livro, podemos ainda ter em mente a tetralogia A Amiga Genial, de Elena Ferrante, que também conta a história (romanceada?) de uma jovem que irrompe da mais baixa escala social dos bairros de Nápoles para se tornar uma escritora. Mas a analogia que nos interessa particularmente é como aqui, nesta obra de Annie Ernaux, e nos romances de Ferrante (e, para voltarmos a outros autores francês, até mesmo nos livros de Édouard Louis, como em Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule), a linguagem está claramente associada à estratificação social, podendo marcar a pessoa tanto como a roupa que usa.
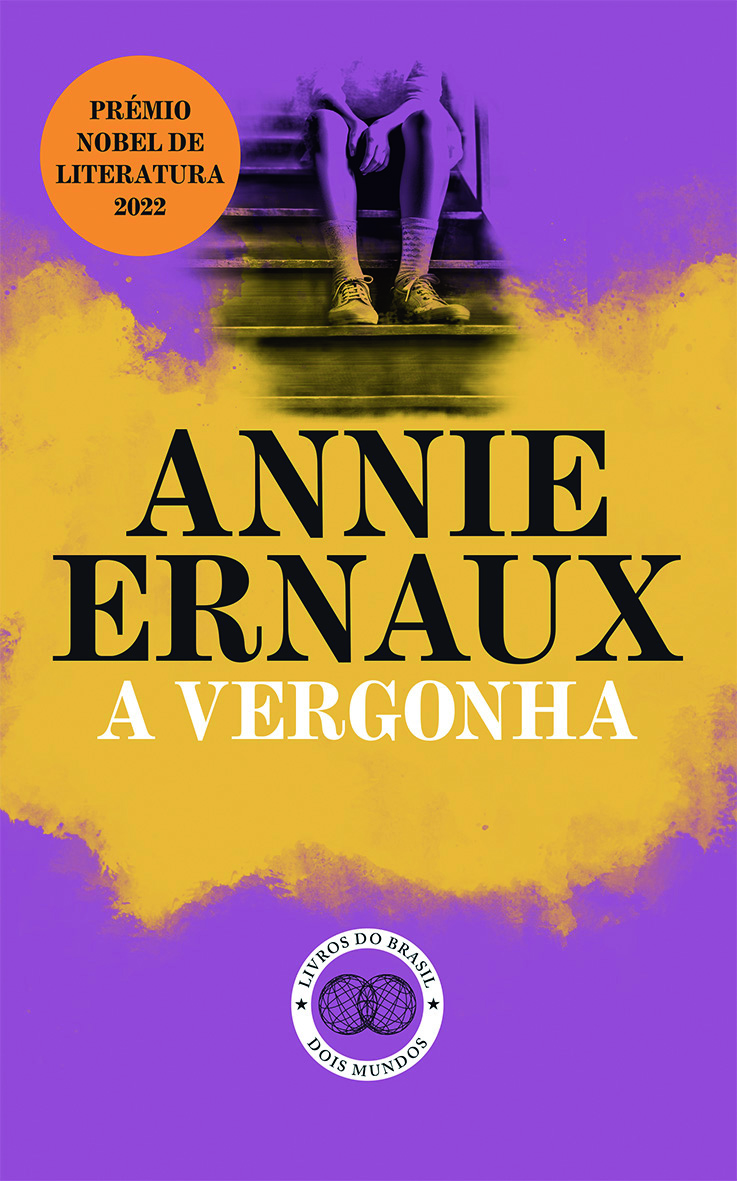
“Descer do centro da cidade ao bairro Clos-des-Parts, e depois até à Cordoaria, é ainda deslizar de um espaço onde se fala bem o francês para outro onde se fala mal, isto é, usar um francês misturado com o patoá, em proporções variáveis consoante a idade, a profissão, o desejo de se instruir. (…) Quase puro nas pessoas mais velhas, como a minha avó, o patoá limita-se, entre as jovens empregadas de escritório, ao uso de certas expressões e à entoação da voz. Toda a gente está de acordo ao considerar o patoá feio e antigo, mesmo aqueles que o empregam frequentemente, e que se justificam deste modo: «sabemos muito bem como se deve dizer, mas assim vai mais depressa».” (p. 38)
Uma nota para a qualidade da tradução de Maria Etelvina Santos que procura ilustrar claramente esta questão, sem nos remeter para o original ou para o ruído das notas de rodapé. Destaque-se, aliás, que as notas de rodapé que aqui ressaltam são as criadas pela própria autora. Neste exaustivo e corajoso trabalho de “ser etnóloga de mim própria” (p. 28), a autora recorre parte de vestígios/artefactos concretos daquela época para convocar as sensações, os medos e anseios escondidos daquela jovem que, por exemplo, é apanhada em falso a cantar uma música, denunciando, uma vez mais, a sua condição social aos olhos da professora. Ler a obra de Annie Ernaux, confirma-se, tem mais de documentário, em que a câmara está principalmente apontada a si, e não tanto aos outros, num jogo especular que é contextualizado por fotografias, jornais antigos, livros, revistas, canções e filmes, que marcam um tempo, e ajudam-na/nos a completar o puzzle de uma época, mas também o puzzle da própria identidade: “Ninguém tem de si próprio uma memória verdadeira.” (p. 27)
Annie Ernaux nasceu em Lillebonne, na Normandia, em 1940. Formou-se em Letras Modernas. É atualmente uma das vozes mais importantes da literatura francesa. Todas as suas obras têm sido apresentadas no Postal do Algarve ou no Cultura.Sul, com destaque para Um Lugar ao Sol (1984), Prémio Renaudot, e Os Anos (2008), Prémio Marguerite Duras e finalista do Man Booker Internacional. O seu primeiro livro publicado pela Livros do Brasil, em 2020, foi Os Anos. Em 2022, foi distinguida com o Prémio Nobel de Literatura.
Leia também: Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver | Por Paulo Serra

















