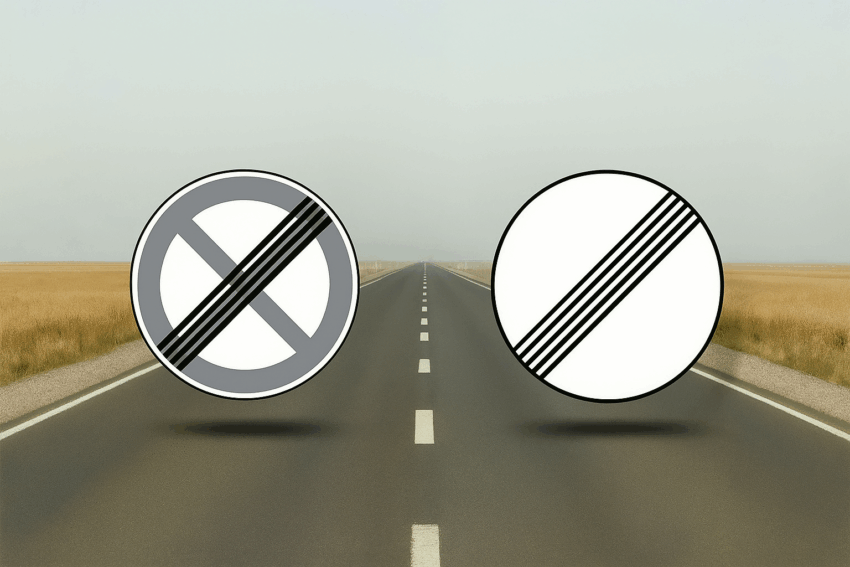Assinala-se esta semana o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres e a pergunta que serve de título a este texto continua a ser feita como contraponto. Afinal, porque temos de trazer o género para a conversa, quando o tema é violência? Pensemos nas notícias que nos chegam diariamente: espancamentos e homicídios em situações de violência doméstica, casamentos forçados, mutilação genital, tráfico humano, exploração sexual, os chamados “crimes de honra”, privação de acesso à educação e de direitos reprodutivos, monitorização policial à roupa que se veste, violência obstétrica, assédio sexual, violações, estas ainda tão comuns em contextos tão díspares quanto os conflitos armados ou, até mesmo, o casamento. O denominador comum? Maioritariamente, as vítimas são meninas, raparigas ou mulheres. Portanto, falemos sobre elas, sim.
A 25 de novembro, realiza-se também por cá a Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. É importante que existam movimentos civis e datas simbólicas como esta porque urge agitarem-se consciências para todas as formas de agressão sistémicas que afetam desproporcionalmente as pessoas do sexo feminino. Tal como refere a Convenção de Istambul, trata-se de agressões que são, não só, uma constante “violação grave dos direitos humanos das mulheres e raparigas”, como representam “um grande obstáculo à realização da igualdade” entre géneros, mundo fora.
Mas há outro dado a salientar nesta agonizante equação, mesmo que possa soar incómodo aos olhos dos mais defensivos da honra masculina, pela potencial generalização que comporta: na esmagadora maioria dos casos, os agressores são homens. Isto significa que todos os homens são potenciais agressores de mulheres? Não. Mas é ao acaso que a larga maioria das vítimas são mulheres e os agressores são homens? Também não. Historicamente, a violência masculina exercida sobre raparigas e mulheres é a base das relações de poder instituídas entre uns e outras. Uma base que nos serve de regra do jogo até hoje no que toca a mentalidades, mesmo que a legislação já exija o contrário.
Subordinar as mulheres é, também, um mecanismo de regulação social, uma estratégia que vai alimentando a continuidade ao status quo, garantindo a dominação delas e o poderio deles. E quanto mais elas, nós, forem discriminadas, violentadas, amedrontadas, privadas de direitos básicos, opiniões, vontades, livre-arbítrio, menos possibilidades de progresso e de ascensão terão. Em última instância, porque estamos a lutar pela manutenção da nossa segurança física e psicológica numa base diária. Em muitos casos, a lutar mesmo pela sobrevivência. E isso dá-nos imenso trabalho, acreditem.
EM 2022, HÁ MULHERES QUE SÃO TORTURADAS, ESCRAVIZADAS, VENDIDAS COMO MERCADORIA
Sim, aparentemente o mundo evoluiu. Não estamos no patamar da Idade Média, é certo, mas também não estamos assim tão distantes de algumas das atrocidades cometidas nessa altura quando pensamos nas realidades que estão a ser vividas neste preciso momento em países como, por exemplo, o Afeganistão, onde as mulheres estão a ser apagadas da sociedade, enclausuradas nas suas casas, privadas de estudar, de trabalhar, de ter conta bancária, de dar um passo que seja sem autorização masculina, mortas sem direito a defesa caso ousem um ato de liberdade individual. No Irão, mulheres e adolescentes são mortas à pancada por se recusarem a usar o véu islâmico. Na Ucrânia, multiplicam-se os relatos de mulheres violadas por soldados russos, numa perpetuação abjeta da violência sexual como arma da guerra. Meninas e mulheres em campos de refugiados, fugidas da Síria, passam pelo mesmo, inclusive às mãos de quem as devia proteger. Um pouco por todo o mundo, mulheres continuam a ser traficadas, ora para exploração sexual, ora para serviço doméstico em regime de escravatura.
Organismos como a UN, a OMS, a Comissão Europeia ou o Instituto Europeu para a Igualdade de Género continuam a apresentar-nos números tão hediondos como o facto de que a cada minuto que passa, 28 meninas são forçadas a casar. Ou que, diariamente, há 8 mil meninas que estão em risco de sofrerem mutilação genital. E que mais de 5 mil mulheres e raparigas são mortas todos os anos nos chamados “crimes de honra”, regra geral cometidos pelos seus próprios pais, irmãos, maridos ou pretendentes despeitados.
A CADA 20 MINUTOS HÁ UMA DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PORTUGAL
Amiúde há quem diga que tudo o que está supramencionado acontece lá longe, e que, por cá, falamos de barriga cheia. Mas será mesmo assim? Vamos lá a números, sempre os números: na Europa, cerca de 23% das mulheres, entre os 15 e os 49 anos, já sofreu alguma forma de violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo pelo menos uma vez na vida. Dados de um estudo da OMS, publicado na Lancet, este ano, com base em informações recolhidas junto de mais de dois milhões de mulheres.
Sabemos também que a violência doméstica é o crime mais participado no nosso país. A cada 20 minutos há uma denúncia de violência doméstica em Portugal. Só em 2021, a PSP e a GNR contabilizaram 26.511 ocorrências. Das mais de 35 mil vítimas, 75% eram do sexo feminino. Morreram 23 pessoas neste contexto, e 16 delas eram mulheres. Sabemos também que, só este ano, foram assassinadas 28 mulheres desde janeiro, 22 delas em relações de intimidade. Em 55% dos casos, existia conhecimento de violência prévia contra a vítima. Como é que nada foi feito para proteger estas mulheres?
Voltando a 2021, houve 374 denúncias por violação de mulheres em Portugal. Estamos a falar de mais de uma mulher por dia, e estes são somente os casos que chegaram às autoridades. Bem sabemos como o silêncio continua a ser demasiadas vezes a regra, num país onde roubos de carros e telemóveis têm processos penais mais pesados do que uma violação. E onde existem tribunais que, ainda há poucos meses, alegaram ter sido uma questão de “fraqueza humana” o facto de um GNR ter violado uma detida. Ou que, no início deste verão, consideraram que carícias por baixo da roupa, nas “partes íntimas” de alunas de sete anos “não configuram um crime de abuso sexual”, suspendendo a pena efetiva aplicada ao professor em causa.
Será tudo isto um grande acaso? Um bocadinho de honestidade nesta resposta ficava-nos bem enquanto sociedade. Mesmo que isso exija questionarmos os nossos próprios comportamentos e privilégios.
- Texto: Expresso, jornal parceiro do POSTAL