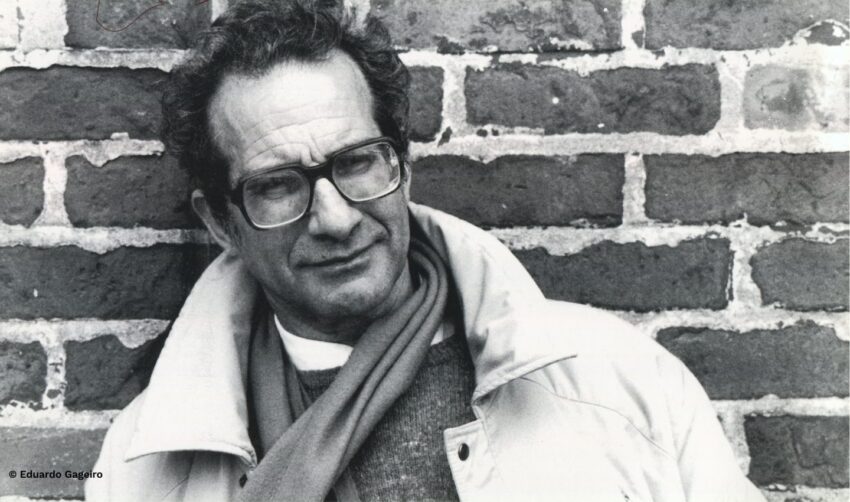Imaginem que estamos a caminhar por um bosque de denso arvoredo. Como é que se chama o espaço vazio que nele podemos encontrar, insuspeitadamente?
Fiz esta pergunta, há alguns dias atrás, a alunos universitários de um curso de humanidades. Perante o silêncio, e mau grado a minha falta de talento, desenhei no quadro várias árvores, um bosque denso, deixando no centro um espaço vazio, ligeiramente arredondado. Como se chama isto, insisti.
As respostas foram as seguintes: “um descampado”, “um buraco”, e muitos “ehhh sei lá, professora!”, com um ar enfastiado.
Chama-se “clareira”, respondi, algo desanimada, mas sem dúvida impreparada para o que viria a seguir: “cla…quê?”, “Clareira, clareira, que é isso? Nunca ouvi essa palavra antes!” E assim por diante, para minha tristeza e desespero. Como poderia eu levá-los da clareira física, biológica, existente nos bosques da natureza, para a clareira intelectual, se o ponto de partida lhes era totalmente desconhecido? Quando nem do significado denotativo há referente, como passar à metáfora? Ou pior, quando nem a palavra se conhece, como saber da existência de algo?
Um amigo dizia-me outro dia que se recordava de que na sua infância existiam nomes diferentes para o cesto da fruta, o cesto da roupa, ou cesto da lenha, etc… Tinham nomes individualizados, agora tudo são apenas cestos. Caíram no indiferenciado. Vi-o encolher-se e um esgar de dor assomar-lhe o rosto. Quanto mais palavras conheço, maior é o meu mundo… Sim, o nosso mundo está a encolher.
Não se trata de capricho ou obstinação, a clareira é uma das metáforas mais importantes do pensamento ocidental. Heidegger a ela se refere no seu Caminhos de Floresta; “O Bosque” é, justamente, o primeiro capítulo das Meditações do Quixote de Ortega y Gasset, e María Zambrano dá o título de Clareiras do Bosque a um dos seus mais excelentes livros. A história do pensamento ocidental está ligada à metáfora da visão. Mesmo em linguagem coloquial, quando queremos certificarmo-nos de que alguém percebeu o que dissemos costumamos perguntar: “estás a ver?”, ou “está claro?”. A clareira do bosque é o lugar vazio e aberto para o acontecimento da luz e também do som. A clareira de pensamento é espaço mental que reúne as condições onde talvez possa dar-se o acontecimento da aletheia ― o desvelamento da verdade encoberta.
Algumas semanas antes tinha carregado comigo mais de uma dezena de livros de diferentes filósofos, entre eles: a Ética a Nicómaco e a Política de Aristóteles, A República e o Protágoras de Platão, o Emílio de Rousseau, as Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, os manuscritos de Filosofía y Educación e as Clareiras do Bosque de María Zambrano, as Cartas a Lucílio de Séneca, Sobre a Pedagogia de Immanuel Kant, Música e Pensamento de Fidelino de Figueiredo, Cartas a um Jovem Filósofo de Agostinho da Silva. Dispus os livros ao longo das mesas e polvilhei-os de flores de buganvília e jasmim. Levei comigo uma coluna de som e fiz soar o segundo andamento do Concerto em Sol M de Ravel, com a Hélène Grimaud como solista. No quadro escrevi o seguinte: “o pensamento é uma paisagem intelectual, cada filósofo um bosque por desvendar”.

Pouco a pouco, as expressões de hostilidade foram como que derretendo e a curiosidade começou a nascer. Pediram-me licença para mexer nos livros ― claro que sim, é mesmo para mexerem! ― vi como alguns reviravam um livro nas mãos como se fosse um objecto estranho. Aquelas capas duras, aquelas folhas amarelecidas, por fim alguém perguntou: “que é isto professora?”, referindo-se a um marcador de fita.
Apesar desta interrogação tão reveladora da ausência de contacto com livros, há esperança, porque uma pergunta interessada revela curiosidade intelectual. O desejo de aprender, que Aristóteles no livro alfa da Metafísica considerava ser aquele que todos os homens têm em comum, ainda não morreu. E eu tinha válidas razões para suspeitar que sim… Logo na primeira aula fui bombardeada pelos alunos a quererem saber como ia ser a avaliação. Respondi-lhes que a avaliação não é neutra com respeito aos conteúdos que se leccionam, e que me parecia que primeiro deveriam querer familiarizar-se com os conteúdos daquela unidade curricular. Foi um desastre! Só queriam saber como seriam avaliados. Estavam completamente fechados, incapazes de ouvir o que quer que fosse que não se referisse à avaliação. Uma vez estabelecido esse ponto, dispus-me uma vez mais, a introduzir o tema de que trataríamos nessa aula. Imediatamente alguém quis falar e eu não acedi. Logo se levantaram vozes indignadas em defesa da colega que pusera a mão no ar “A professora não deixa a colega falar! Nós temos o direito de dar a nossa opinião!” Estaquei. Respirei fundo e respondi: “Opinar sobre o quê se eu ainda não comecei?”
Assim está o mundo universitário. Qual será a situação nos níveis anteriores? Posso relatar o que se passou comigo quando, cheia de ideais, resolvi experimentar leccionar no ensino secundário, há quatro anos atrás. Deparei-me com alunos de décimo e décimo primeiro ano que não sabiam conjugar o verbo ser. Quando lhes pedia para lerem em voz alta recusavam veementemente. Depois percebi porquê: soletravam! Hesitavam a cada palavra, incapazes de lerem uma frase inteira até ao fim, quanto mais dar-lhe uma entoação apropriada! Quanto ao significado daquilo que se está a ler, o esforço mental estava todo em conseguir juntar os signos linguísticos e produzir o som adequado. Esgotados, já não tinham forças para tentar perceber o significado daquilo que tinham acabado de ler. Temos, pois, nos níveis complementares de ensino, alunos semianalfabetos. Aqui nos conduziram as políticas educativas que impedem de reprovar um aluno seja em que circunstâncias for. O horror burocrático pelo qual tem de passar um professor que se atrevesse a fazê-lo é tal que ninguém ousa!
Nessas aulas percebi que o máximo que podia fazer era tentar passar alguns valores éticos, porque pedir a esses alunos que não dominam a sua língua materna que reflictam é, como calcularão, uma impossibilidade!
Nesse mesmo ano foram-me dadas direcções de turma. Entre as tarefas desse cargo estava a de, em horários definidos, permanecer na sala de directores de turma e realizar o trabalho burocrático que me competia. Invariavelmente, havia alguma falha no sistema informático que impedia que a tarefa se realizasse. Porém, mesmo incapacitada de trabalhar naquele horário e naquele local por falta de condições, eu era obrigada a permanecer nesse sítio sob pena de me marcarem falta! Esse trabalho teria de ser depois realizado em casa sobrecarregando ainda mais uma vida já assoberbada. Dei-me conta de que passava mais de 90% do meu tempo a resolver problemas burocráticos, ou técnicos, causados pela tirania informática e administrativa em que vivemos.
Deixei de ter tempo para ler. Ora eu preciso de ler como de respirar, e comecei a asfixiar. Como fariam os meus colegas? Fui então falar com a directora da escola, uma colega doutorada em Literatura Portuguesa. Revelei a minha angústia e pedi-lhe conselho. Ela ergueu para mim um rosto tão cansado que já nem a perplexidade assomava: “A Maria João sabe há quantos anos é que eu não leio um livro?”
A minha solidariedade está com todos os colegas professores que apesar de massacrados por um sistema que nos suga a vida e nos maltrata, continuam a lutar por ensinar.
A minha compaixão está com todos os alunos vítimas de embrutecimento mental, resultado do facilitismo a que foram sujeitos num sistema que só pretende resultados estatísticos.
A minha força está com todos aqueles que queiram mudar este estado de coisas.
Café Filosófico: SOS Educação | 18 Maio 2023 | 18:30 | AP Maria Nova Lounge Hotel, Tavira
Contribuição: 5€ | Inclui: água aromatizada / cálice de vinho
Inscrições: [email protected]
A autora escreve de acordo com a antiga ortografia
* Doutorada em Filosofia Contemporânea;
Investigadora da Universidade Nova de Lisboa