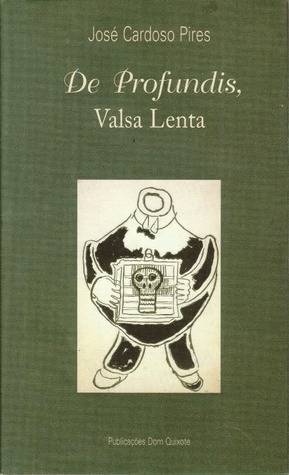Assessor do Instituto de Defesa do Consumidor
Consultor do POSTAL
De Profundis, Valsa Lenta, por José Cardoso Pires, Círculo de Leitores, 1998 (1ª edição em 1997), tem na capa um desenho de Mário Eloy intitulado A Morte na Gaiola, obra pertencente ao Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. O que é que singulariza este trabalho de um dos mais eminentes escritores portugueses da segunda metade do século XX? Logo o prefácio, original a todos os títulos, de um grande escritor que não o quis ser para se dedicar à medicina, João Lobo Antunes. Oiçamo-lo, ele prefacia dirigindo-se ao escritor que foi bem-sucedido onde podia ter ficado amplamente inutilizado: “Devo dizer-lhe que é escassa a produção literária sobre a doença vascular cerebral. A razão é simples: é que ela seca a fonte de onde brota o pensamento ou perturba o rio por onde ele se escoa, e assim é difícil, se não impossível, explicar aos outros como se dissolve a memória, se suspende a fala, se embota a sensibilidade, se contém o gesto (…) Tentei no passado, sem êxito, devo confessar, que pacientes meus, com patologias e equipamento algo semelhante seu – inteligência, sensibilidade, poder de análise, talento discursivo, distanciamento introspetivo – partilhassem com outros a sua história”.

Escreve as manifestações, o discurso do doente que sofria de uma afazia fluente grave, saiu desanimado do encontro. E descreve com talento sem rival as razões para ter existido um campo de esperança e como tudo veio a acontecer para que o doente, a despeito de certas limitações, voltasse a ser o homem que era no passado. E o médico dá duas explicações. A primeira, o doente tivera sorte, “e não há nada de mal nisso. O inimigo queixava-se de Napoleão por ele ter generais com sorte, ao que o imperador retorquia que não gostava de generais sem sorte, princípio para mim fundamental na prática da profissão. A segunda, é que a área que temporariamente V. deixou à sede e à fome, e pela qual falava, lia e escrevia, tudo funções em que é exímio, era mais musculada que a do comum dos mortais. E isto não é treta, porque se sabe hoje que os donos do ouvido absoluto, que lhes permite a identificação imediata de qualquer som – e Mozart tinha-o, e de forma admirável –, têm a área auditiva do córtex cerebral indiscutivelmente hipertrofiada”. E despede-se do notável escritor tratando-o por amigo novo. A iminência de que algo de extraordinário se passava vem logo no arranque da primeira página da prosa de José Cardoso Pires:
“Janeiro de 1995, quinta-feira. Em roupão e de cigarro apagado nos dedos, sentei-me à mesa do pequeno-almoço onde já estavam a minha mulher com a Sylvie e o António que tinham chegado na véspera a Portugal. Acho que dei os bons dias e que, embora calmo, trazia uma palidez de cera. Foi numa manhã cinzenta que nunca mais esquecerei, as pessoas a falarem não sei de quê e eu a correr a sala com o olhar, o chão, as paredes, o enorme plátano por trás da varanda. Reparei na chávena de chá e fiquei. ‘Sinto-me mal, nunca me senti assim’, murmurei numa fria tranquilidade.
Silêncio brusco. Eu e a chávena debaixo dos meus olhos. De repente viro-me para a minha mulher: ‘Como é que tu te chamas?’.
Pausa. ‘Eu? Edite’. Nova pausa. ‘E tu?’.
‘Parece que é Cardoso Pires’, respondi então”.
E o autor dá sequência aos episódios seguintes, houvera perda de identidade que um transtorno do cérebro tinha acabado de desencadear, recorda a brancura hospitalar, o registo, as análises, eletrocardiogramas, exames da fala e da escrita, uma TAC, uma inspeção às carótidas, interroga-se sobre o que é que estava a fazer ali, seguiu-se o relatório neurológico: acidente vascular cerebral de gravidade muito acentuada, um coágulo de sangue que tinha subido até à zona nobre do cérebro. Parece uma médica com perguntas a aviar. Questiona-se: “O que restaria de mim no homem que ficou para ali estendido à espera de coisa nenhuma?”. E a prova insofismável de que o doente retomou a sua costumada arquitetura da escrita tão timbrada de originalidade é que o seu discurso flui entre pensamentos íntimos, conversas havidas com a mulher, umas vezes na primeira, outras vezes na terceira pessoa, acendem-se recordações espúrias, uns ensaios de escrita, completamente incongruentes, é o estado de desmemória, e parece que o doente confessa ao escritor: “Atentem, atentem nele: chegam amigos a visitá-lo mas ficam-lhe no limiar da recordação. Pelo desfocar da vista, por certas expressões evasivas ou por certas sensibilidades, percebe-se que não é capaz de os localizar com clareza. A um deles, sei eu que lhe vi os olhos toldados de lágrimas e que teve o impensável vislumbre de estranheza, o que era aquilo, parecia perguntar – mas frio, terrivelmente frio”.
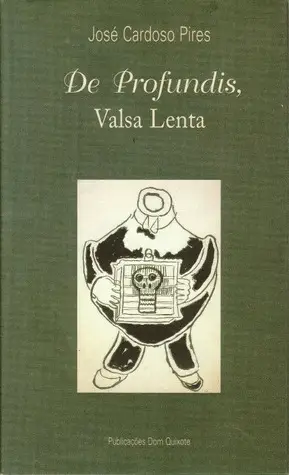
E há o renascimento, um trânsito para a outra pessoa que ele foi, os trabalhos da retoma da memória, entre ele e o outro, interroga-se que ali não há loucura, está num quarto rodeado de dois candidatos à morte no maior dos carnavais, agora sim, temos a marca de água da sua escrita singular, a sua observação dos dois doentes que com ele convivem, a sua mente tateia, pega em expressões e dá-lhes um significado onde procura congruência, é prudente neste desfazer das trevas brancas, caminha vagarosamente na reposição da normalidade. E um dia tem alta: “Pronto. Cá vou eu, de Lisboa ao sol, cá vou eu, e agora, passados meses, já sentado diante destas folhas de papel, redijo-me em capítulo de liberdade a atravessar a capital com a Edite ao volante. Regressava a casa em saudação de Primavera em pleno mês de janeiro. Para trás ficava a pesada babilónia do Hospital de Santa Maria onde àquela hora um cirurgião rodeado de toda a sua equipa a reconstruir o cérebro de alguém suspenso entre a terra e o céu”. E despede-se, um tanto do outro, aquele que adoeceu, como vimos no início do seu registo, e quer que o leitor tome nota, para que não subsistam dúvidas: “Vou interrogando e retendo, apurando a caligrafia da recomposição, e quando chega o convite do meu companheiro de hospital para uma celebração de lagosta com champanhe, não hesito em fechar e pôr assinatura no texto. Disse e vivi, Acta est fabula. Como despedida, a festa anunciada parece-me uma vinheta condigna mas, se me é permitido, acrescento-lhe um fio de música”.
Asseguro-vos que nada de tão alquímico, quase pirotécnico, conheço da arte da grande escrita. José Cardoso Pires despede-se assim: “Penso que nenhum escritor que ama realmente a vida se justifica com a posteridade no seu esforço de perfeição e nos seus fracassos e que nenhum trabalha a sua obra como se tecesse um requiemde si próprio”.
De leitura obrigatória.