
Paulo Serra é doutorado em Literatura na Universidade do Algarve e investigador do CLEPUL
A obra da autora canadiana Margaret Atwood continua a ser relançada em Portugal, depois do sucesso de A História de uma Serva, que deu origem ao sucesso televisivo da série The Handmaid’s Tale, do canal Hulu.
À semelhança de outras obras publicadas pela Elsinore, já apresentadas aqui na rubrica da Leitura da Semana do Postal do Algarve, como Uma Odisseiaou O Mel do Leão, A Odisseia de Penélope recupera esse misto de anonimato e colectivo que vive num mito e dá-lhe nova vida, neste caso, uma nova voz, a da mulher de Ulisses.
Sempre irreverente, no seu humor e ironia, a autora recupera aqui a figura de Penélope e tece a sua própria teia narrativa: «as pessoas diziam-me que eu era bonita, mas, também, que remédio tinham senão dizê-lo sendo eu uma princesa, e, em pouco tempo, uma rainha, mas a verdade é que, embora não fosse aleijada nem feia, não era nada de especial. Em todo o caso, era esperta, muito esperta até, se tivermos a época em conta. Parece ser por isso que sou conhecida: por ser esperta. Isso e a minha tecelagem, a dedicação ao meu marido, e a minha discrição.» (p. 29)

A partir do reino de Hades, perfeitamente consciente de que os tempos são outros, até porque Ulisses entretanto tem vivido várias encarnações, entrando e saindo do reino dos Infernos, Penélope conta a sua própria versão dos acontecimentos imortalizados na Odisseia de Homero: como casou tão jovem, aos quinze anos, e foi viver para Ítaca, ao contrário dos costumes da época; como ela própria tinha de ser sagaz como a raposa do marido e safar-se com o subterfúgio de tecer uma mortalha que desfazia durante a noite; a sua difícil relação com Telémaco, um jovenzinho que começa a querer afirmar-se, achando a mãe incapaz de continuar a governar o reino que é dele por direito; a ambiguidade em torno do seu comportamento num palácio com mais de 100 homens que lhe disputavam a mão e, por conseguinte, o leito conjugal; os rumores que corriam das aventuras do próprio Ulisses com feiticeiras e deusas; as complicações de se relacionar com Euricleia, ama de Ulisses, que se impõe como uma “sabe-tudo” ou não tivesse ela criado o rei; e a sua animosidade para com a sua bela prima Helena, cuja face foi capaz de lançar mil navios para a guerra.
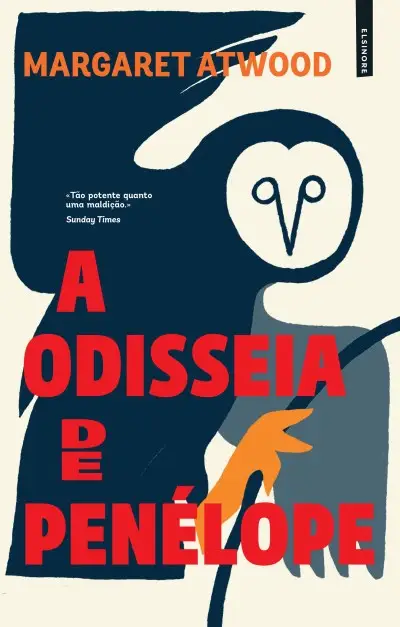
Mas nesta teia em que Margaret Atwood nos enleia nem tudo é mera fantasia e capricho de escrita, pois sente-se como a autora estudou os mitos e avança as suas próprias hipóteses de reinterpretação dos mesmos, narrando sempre a partir da voz e perspectiva de uma Penélope que não está de todo votada ao passado e que se dirige directamente ao leitor:
«A mortalha em si tornou-se numa história quase instantaneamente. «A teia de Penélope», chamavam-lhe; as pessoas costumavam dizer isso de qualquer trabalho que fosse misteriosamente infindável. Eu não gostava do termo «teia». Se a mortalha era uma teia, então eu era uma aranha. Mas não fora tentada a apanhar homens como quem apanha moscas; pelo contrário, andara só a ver se me escapava a ser enredada.» (p. 93).

















