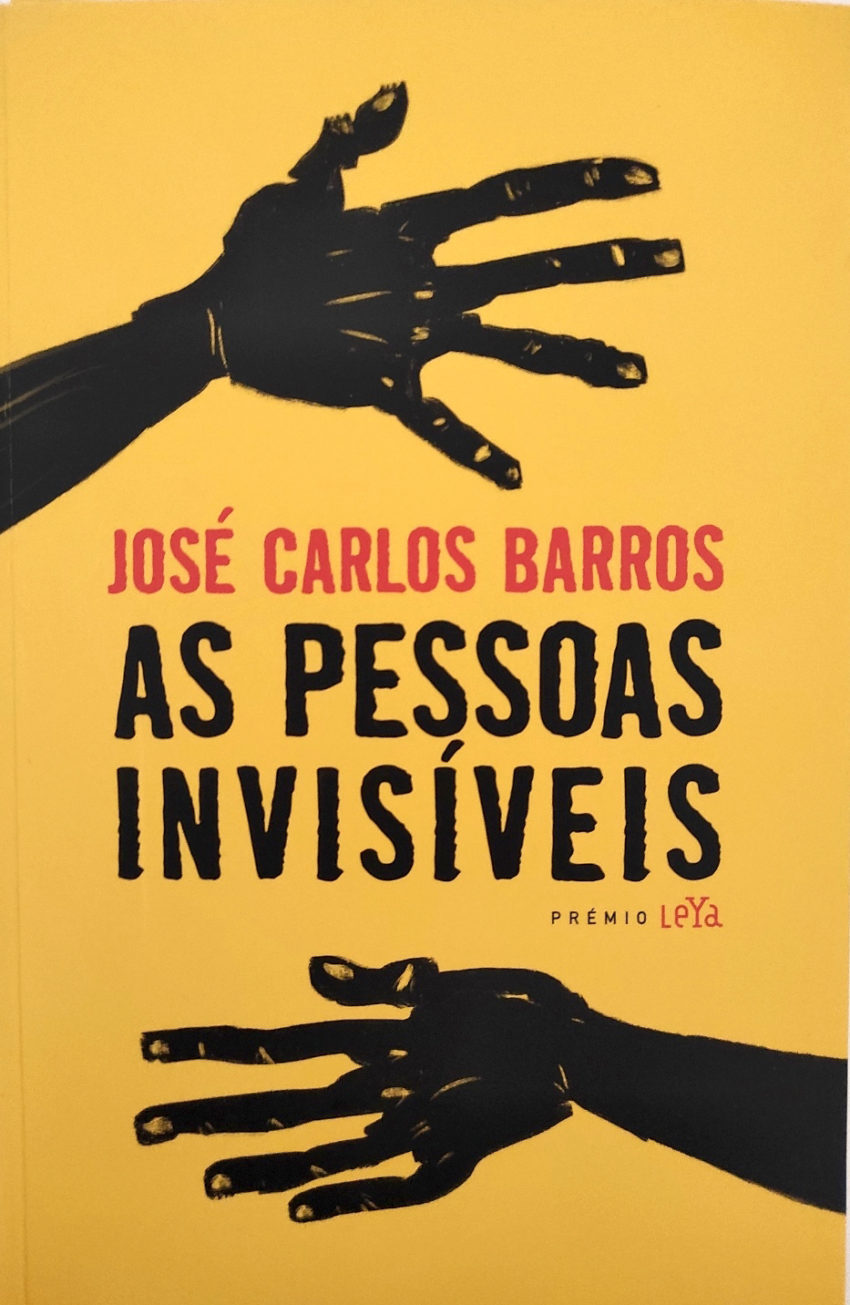Este diálogo decorreu em Vila Nova de Cacela, onde já falei outras vezes com José Carlos Barros. Ambos colaborámos no DN Jovem, um suplemento do Diário de Notícias, embora em épocas diferentes. Como costumamos dizer, somos “DN Jotas”.
Depois do Prémio Leya 2021 atribuído à obra As Pessoas Invisíveis, ainda não tínhamos falado pessoalmente e esta conversa permitiu conhecer alguns detalhes sobre o livro premiado para partilhar com os leitores deste jornal.
José Carlos Barros nasceu em Boticas em 1963 e vive no Algarve, em Vila Nova de Cacela. É Arquitecto Paisagista, licenciado pela Universidade de Évora. Foi director do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António. É autor de vários livros de poesia e de dois romances: O Prazer e o Tédio, de 2009, adaptado ao cinema por André Graça Gomes; e Um Amigo Para o Inverno finalista do Prémio LeYa em 2012 e publicado no ano seguinte. Venceu vários prémios literários. Os seus livros mais recentes, todos de poesia são: O Uso dos Venenos (2ª edição, 2018); A Educação das Crianças (2020), Estação – Os Poemas do DN Jovem, 1984-1989 (2020); Penélope Escreve a Ulisses (2021).
P – No próximo dia 23 de Abril celebra-se o Dia Mundial do Livro. O romance nessa data já estará nas livrarias. Como será celebrado esse dia?
R – Bem, não sou muito de comemorar dias disto e daquilo, da Poesia ou da Árvore, da Paz ou dos Rios. Aqui não será muito diferente: As Pessoas Invisíveis vai para as livrarias no próximo dia 12 de Abril, e a 23 de Abril, portanto, já estará a fazer o seu próprio caminho, já a começar a deixar de me pertencer. A ir à vida dele. E é assim que está certo: o destino de um livro é ir à procura dos seus leitores.
P – O que é que vamos encontrar ao longo das 323 páginas deste livro?
R – Bem, o livro é, no essencial, um olhar sobre o Portugal do Estado Novo. Sobre esse período que vai da Constituição de 1933 até ao 25 de Abril de 1974. Com alguns recuos e avanços: um recuo ao século XIX, para se tratar da questão da abolição formal da escravatura, e um avanço até à morte de Francisco Sá Carneiro e às eleições presidenciais de 1980, para que os primeiros anos a seguir à revolução de Abril não ficassem de fora deste olhar sobre um arco temporal tão alargado. Claro que este é um olhar de entre muitos olhares possíveis, de entre várias perspectivas possíveis.
P – E que perspectivas são aqui privilegiadas?
R – Este olhar sobre o Estado Novo faz-se, no essencial, a partir de duas características desse tempo: por um lado, Portugal é um país que tem um Império, que tem Colónias. Que, aliás, passarão a designar-se por Províncias, após a revisão constitucional de 1951. Um país que tem um Império, portanto, e, simultaneamente, um País rural, pobre, de superstições, de santinhas miraculadas…
P – Há pouco foi referida a «abolição formal da escravatura» e não apenas «abolição». Que necessidade é essa de especificar a questão formal?
R – As histórias do livro demonstram como a abolição legal da escravatura, de facto, precedeu em muitos anos a sua abolição efectiva. Ou seja, a abolição legal não acabou com o trabalho escravo. Um dos episódios centrais do livro, aliás, baseia-se nisso mesmo.
P – Baseia-se no Massacre de Batepá?
R – Exactamente.
P- Ainda que, em nota de abertura, apareça escrito que as histórias do livro não se baseiam em factos reais e que não têm a ver com o Massacre de Batepá, nem com os acontecimentos de Fevereiro de 1953 em São Tomé e Príncipe…
R – O leitor compreenderá, certamente, que essa é uma piscadela de olho que o autor lhe faz… Mas, no essencial, a procurar distanciar-se da ideia de romance histórico, e a alertar para o facto de que este livro não é, nem pretende ser, um romance histórico.
P – Mas não parte de um conjunto de factos reais?
R – Sim, parte. Mas a ambição é sempre a de dar aos acontecimentos um carácter de universalidade. Ou seja: neste caso específico, mais do que descrever os acontecimentos do Massacre de Batepá, o que me interessava era dar notícia da ignomínia e da indignidade que, de modo idêntico, se revelou, e continua a revelar, em diferentes tempos e geografias.
P – Nesta conversa sobre o livro já falámos, por mais do que uma vez, da questão da escravatura…
R – Sim, porque é um dos temas centrais. O Massacre de Batepá, de facto, está ligado a uma recusa dos são-tomenses em se sujeitarem ao trabalho servil. Ou serviçal. Mas não tenhamos receio das palavras: ao trabalho escravo.
P – Penso que esta história é relativamente desconhecida…
R – Isso foi o que mais me surpreendeu e sobressaltou quando, em 2011, na Bienal de São Tomé, descobri pela primeira vez um conjunto de painéis com referência a esses acontecimentos de Fevereiro de 1953 em que terão morrido mais de mil pessoas.
P – Há um grande enfoque sobre trabalho escravo?
R – Sim, as referências e as denúncias a este respeito vinham do interior do próprio regime. Sem fugir à terminologia de trabalho escravo… Por exemplo: Marcello Caetano, por mais do que uma vez, faz referência ao assunto na sua correspondência com Salazar, alertando para a necessidade de resolver a indignidade associada ao «engajamento de mão-de-obra indígena». E no Relatório de Henrique Galvão, discutido em 1947 na Assembleia Nacional, em sessão secreta da Comissão das Colónias, refere-se uma «situação insustentável em que só os mortos estão isentos da compulsão ao trabalho» e denuncia-se uma realidade «mais grave do que a criada pela escravatura pura». É neste enquadramento que deve ser entendida a revolta dos forros, ou filhos da terra, em 1953, contra a imposição do trabalho servil.
P – Mas o livro não se limita a esta temática…
R – Claro que não. A conversa é que nos levou por aqui… No romance, como pano de fundo de tudo isto, há a revisitação do Portugal rural desse tempo, desde os anos trinta e das movimentações na raia durante a Guerra Civil, fugindo-se de Franco e de Salazar, até aos anos quarenta e à exploração do volfrâmio e ao tempo sombrio da Segunda Guerra Mundial… Não se podendo decifrar as histórias, que o leitor deverá descobrir sozinho, sempre se poderá ainda dizer que, fintando as cronologias, tudo começa em 1980, em Berlim, com o relato da descoberta de uma jazida de ouro…
P – E quem são, afinal, As Pessoas Invisíveis?
R – Penso que o leitor descobrirá as pessoas invisíveis do livro: essas que não têm rosto, nem voz, nem identidade. E que, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, são quem paga a factura do que convencionamos designar por «interesse público». Como se não existissem, ou como se o mundo, que não funcionaria sem elas, pudesse abdicar de lhes dizer os nomes.
P – Foi interessante termos falado no início desta conversa sobre escritores de relevo em Portugal, que se lançaram através do suplemento DN Jovem. Que escritores mais te influenciaram ao longo da vida?
R – Acho que, de um ou outro modo, tudo o que lemos acaba por servir ao ofício: os bons e os maus livros, as notícias de jornal, as bulas dos medicamentos, os textos de publicidade. Mas é claro que somos particularmente marcados por determinados livros e autores. Assim de repente, talvez todo o Vergílio Ferreira, todo o Jorge Luis Borges (mas começando pelas Ficções), o Eugénio de Andrade, Os Passos em Volta do Herberto Helder, e, claro, sempre, o D. Quixote.
P – Já estás a pensar num próximo livro? Que tema?
R – Penso que vai demorar até me libertar deste livro e regressar à escrita. Mas, sim, já ando com algumas histórias na cabeça, ainda que não tenha escrito uma única linha de texto. Não gostaria de falar do tema, porque eu próprio não tenho a certeza do que é que vai acabar por impor-se: mais do que escolher, em regra o que acontece é que somos escolhidos. Mas quase de certeza que regressarei ao passado, porque não vejo outro modo de falar sobre o presente e de compreender o nosso tempo.
P – Obrigada por esta partilha, a primeira que será publicada sobre o conteúdo desta obra premiada, antes de ir para as livrarias. Boa sorte para a carreira literária.
R – Obrigado, boa sorte também para a tua escrita.
A autora não escreve segundo o acordo ortográfico
* Investigadora na área da Sociologia; Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
[email protected]