Se tivesse de nomear as minhas autoras favoritas, indicaria pelo menos três nomes. Margaret Atwood, Rachel Cusk e Kate Atkinson – todas elas com um registo diferente.
Estou, portanto, muito contente com a publicação de Desfile, mais recente romance de Rachel Cusk, uma autora original, corajosa, inovadora, que tem feito o nunca feito antes. A tradução é de Alda Rodrigues e está publicado pela Relógio d’Água.
Cusk, dona de um registo narrativo autoficcional(?) singular e inventivo, confirma-se como uma grande autora, o que se comprovou recentemente com a atribuição do Prémio Goldsmiths.

Doutorado em Literatura na UAlg
e Investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC)
A escrita de Cusk é absolutamente deliciosa e original, impregnada de algum humor negro
Este é um romance sobre criação, sobre representação, sobre arte, que de forma fragmentada e pouco ensaística levanta questões sobre a capacidade de a literatura representar a verdade do mundo.
É ainda um livro sobre a evolução das mulheres, o seu papel na arte e a violência de que são geralmente vítimas. É, portanto, sintomático que a narradora, embora renegue a memória, e queira escrever apenas sobre o presente, recue várias vezes ao momento em que foi atacada por uma estranha na rua.

Por aqui desfilam diversas personagens, e uma narradora, mulher de um artista de seu nome G.
Como aliás todas as outras personagens deste livro, que dão igualmente, e simplesmente, pela inicial G – seja homem ou mulher.
Cusk é autora de Segunda Casa, da trilogia A contraluz, das memórias A Life’s Work e Aftermath e de várias outras obras de ficção e não-ficção, incluindo o seu mais recente romance, Desfile. Foi bolseira Guggenheim. Vive atualmente em Paris.
Fica aqui a recensão ao seu mais recente romance e passamos em revista os seus anteriores.
Segunda Casa, publicado pela Relógio d’Água, com tradução de Sara Serras Pereira, integrou a lista de finalistas do Booker Prize de 2021.
A trilogia Outline, completada em 2018, publicada entre nós pela Quetzal – A Contraluz (2017) e Trânsito (2018), ambos com tradução de Ana Matoso –, sendo o terceiro e último volume, Kudos (2019), publicado pela Relógio d’Água, representam um novo dispositivo narrativo criado pela autora, inédito na ficção em geral, em que protagonista e narradora se esbatem até ser pouco mais do que um contorno a contraluz, quase como se não houvesse uma intriga propriamente dita, mas sim o desfilar de uma câmara documental.
Desfile
Numa escrita que lida continuamente com o aperfeiçoamento da representação do real, Desfile mergulha justamente a fundo na questão da referencialidade e estilhaça a noção autoral, descentrando constantemente a narrativa entre uma voz narrativa pessoal e outra impessoal – encontrar o tom certo nesta excelente tradução adivinha-se desafiante. Aqui desfilam diversas personagens, enquanto a narração fragmentária alterna entre a primeira e a terceira pessoa. Se o “eu” é fixo, já os outros biografados são vários, enigmaticamente apelidados somente por uma inicial: o aclamado artista G pinta quadros onde a realidade figura de pernas para o ar; a pintora G cria a partir de fotografias; G, fracassado autor, envereda pela realização de filmes que caem igualmente na indiferença do público.
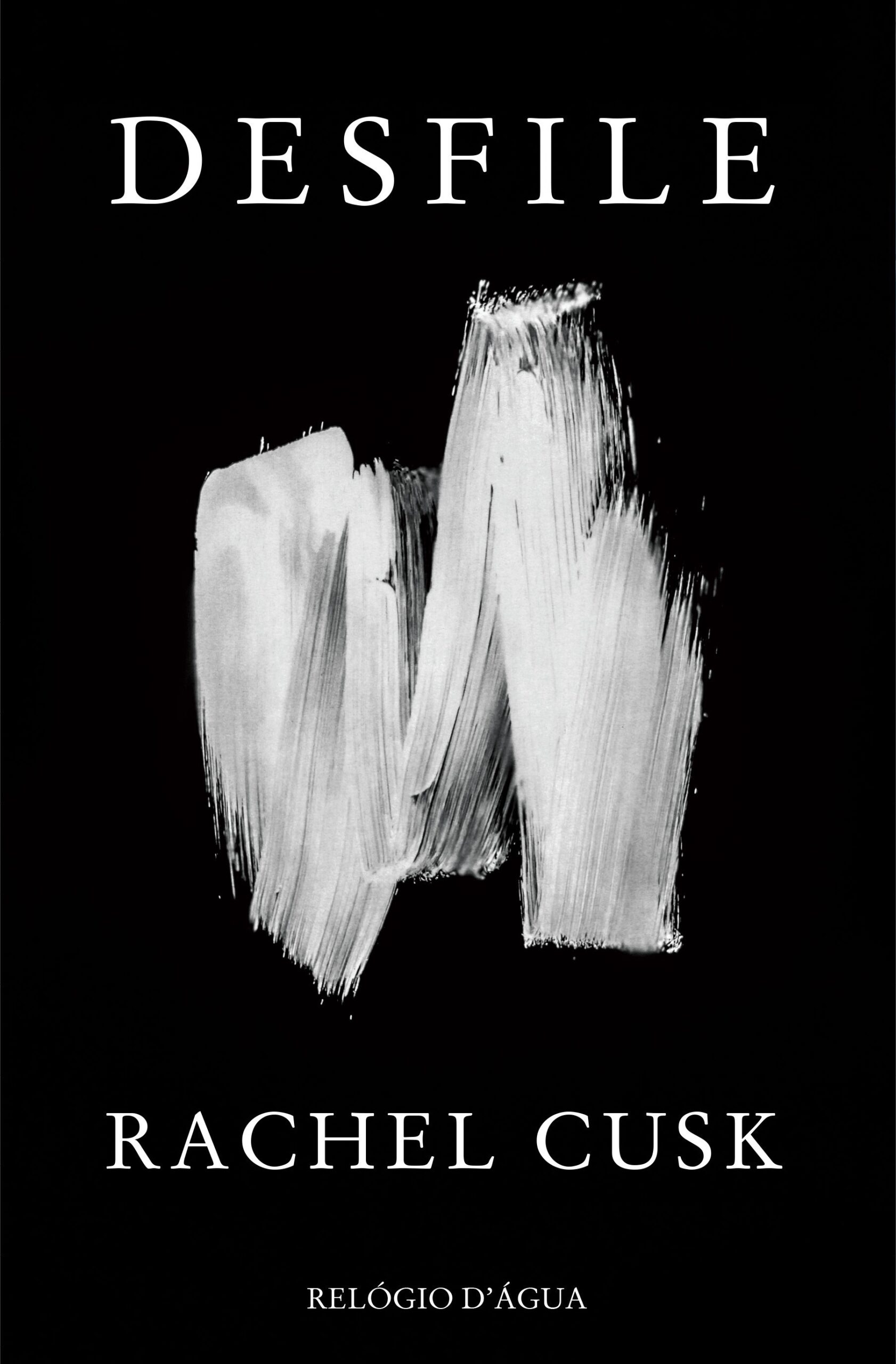
Uma voz narrativa que arrisca no limite, por vezes próxima do ensaístico, e problematiza questões – subtilmente, sem parecer interpelar o leitor (embora na realidade só se possa dirigir a este) –, sobre criação, representação, arte… em suma, a capacidade de a literatura representar a verdade do mundo. Espelhos, janelas, telas, são motivos recorrentes.
Pode um escritor arrogar-se a pretender mostrar o mundo tal como é? Ou sujeitamo-nos, como a narradora, a que a realidade nos atinja com uma pancada?
“Que pretendia ele captar? Que visão inelutável era essa que a escrita estava tão longe de abranger? A natureza declarativa da escrita era demasiado grosseira e seguia demasiadas fórmulas para fazer justiça a esta visão. Os escritores escrevem sobre o que conhecem e já decidiram que está ali. Fingem que não sabem, que não decidiram. Vendem esta ilusão aos leitores, que se associam a eles no labor da fantasia.” (p. 123)
Segunda Casa
Segunda Casa, publicado pela Relógio d’Água, com tradução de Sara Serras Pereira, integrou a lista de finalistas do Booker Prize de 2021. Segunda Casa (Second Place, no original) é um regresso da autora ao romance e também a um registo mais convencionalmente narrativo.
Uma mulher, a narradora, convida um prestigiado pintor para passar uma temporada com ela e a sua família. A narradora nunca é identificada, ainda que fiquemos a saber que é escritora, e a narrativa, passada nos nossos dias (já depois do deflagrar da pandemia) afigura-se como uma longa missiva que tem Jeffers como destinatário, ou narratário. É a Jeffers que a narradora descreve como em tempos ela e Tony, o seu parceiro, comprou um terreno baldio contíguo ao seu «para impedir que fosse mal usado» (p. 20) onde construíram uma segunda casa. Essa segunda casa num paul tornou-se com o tempo o refúgio de uma série de artistas convidados expressamente pelo casal. Numa certa manhã em Paris, numa galeria, a narradora descobre um quadro de L, e apesar de nunca ter ouvido falar do artista, fica profundamente impressionada pelo seu marcante auto-retrato, em que «ele se coloca a si próprio mais ou menos à mesma distância que mantemos de um estranho» (p. 14). Da mesma forma que o artista no auto-retrato parece até surpreendido com a sua própria existência, deitando sobre si mesmo um olhar penetrantemente objectivo, a narradora sente então uma súbita pena de si própria, tornando-se simultaneamente independente, deixando de estar imersa na sua história de vida. Pouco depois, escreverá a L a convidá-lo a ir até a esse lugar sagrado de criação, e depois de uma série de peripécias, L acaba por chegar, mas nem tudo corre como ela desejaria.

Este é um romance profundamente inteligente sobre o sentido de propriedade (e talvez daí a centralidade do espaço-casa) na arte e, sobretudo, nas relações amorosas, entre homem-mulher, e humanas, entre mãe-filha, entre artista e musa, entre inspiração vs. objeto retratado. Da mesma forma que, para a narradora, a pintura, e outras criações (não feitas de palavras), «possuem uma propriedade capaz de nos dar algum alívio», pois são também uma segunda casa, «um lugar, um poiso que podemos ocupar quando o espaço restante foi ocupado pelas críticas» (p. 15), também esta narrativa, diz-nos a narradora, é um edifício, construído com palavras, «feito do tempo que passei com L» (p. 107), tempo esse que não correu como ela esperava, até porque as almas dos artistas são pouco atreitas a deixarem-se dominar por patronos e anfitriões.
Kudos – A Contraluz – Trânsito
É uma mulher. É escritora. Vive em Londres. Divorciada. Mãe de dois filhos – com os quais parece só comunicar por telefone – que optaram recentemente por ir viver com o pai. Casada pela segunda vez. Chama-se Faye – como se descobre quando o seu nome é pronunciado uma única vez, no romance inteiro, perto do final. Está prestes a embarcar numa viagem de promoção da sua obra num festival de literatura na Europa.
Kudos, traduzido por Ana Falcão Bastos, publicado pela Relógio d’Água, encerra a trilogia inicialmente publicada pela Quetzal, com A Contraluz (2017) e Trânsito (2018), ambos com tradução de Ana Matoso, e parece inclusive fechar o ciclo começado em A Contraluz… Faye encontra-se novamente num avião como no início do primeiro livro. Neste conjunto de obras a autora cria um novo dispositivo narrativo na sua obra, e inédito na ficção em geral, em que protagonista e narradora se esbatem até ser pouco mais do que um contorno a contraluz. Contudo, o livro é praticamente impossível de pousar, enquanto assistimos a um desfiar de histórias, sem filtro e sem juízos, sobre a família, a arte, a política, a crítica, a literatura, o futuro da Humanidade, o papel da mulher.
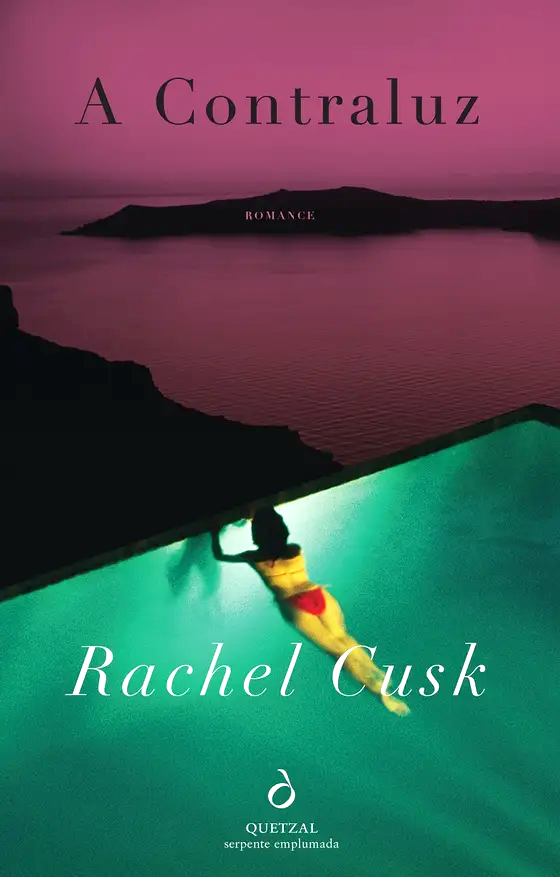
Assim se tece uma nova forma de narrar, em que a protagonista, vista a contraluz, especialmente a partir do que os outros observam sobre ela, permanece muda em praticamente toda a narrativa. Apesar de se escrever que a obra da autora entretece autobiografia e ficção, quase nada é revelado sobre a personagem, apesar de ser ela também a narradora, e o que se regista sobre si é apenas factual. Quase sem voz, assim como sem corpo, a narradora mais parece uma confidente e que nunca opina, apenas coloca questões que conduzem a linearidade das histórias dos que a cercam.
É sintomática a entrevista que alguém intenta fazer-lhe, em que na verdade a entrevistada nunca fala de si… «Reparara, por exemplo, que muitas vezes era uma simples pergunta a provocar nas minhas personagens proezas no domínio das revelações pessoais e que, como era óbvio, isso o fizera refletir sobre a sua profissão, que tinha como característica central fazer perguntas.» (p. 119) Inclusive quando observa os que com ela convivem, amigos, estranhos de passagem, colegas escritores, Faye não tece considerações, limitando-se a transcrever os seus diálogos, que mais se assemelham a monólogos, ainda que se perceba que lança perguntas que encaminham o ritmo dos solilóquios daqueles com que se cruza e através dos quais tece uma reflexão sobre os mais variados temas. Existem diversas situações em que os seus interlocutores são inclusive tratados como narradores e as suas histórias de vida como narrativas, pois como diz alguém: «as vidas das outras pessoas eram um drama que se desenrolava e que evoluía, passando por diferentes fases da existência, como uma telenovela prolongada» (p. 139)
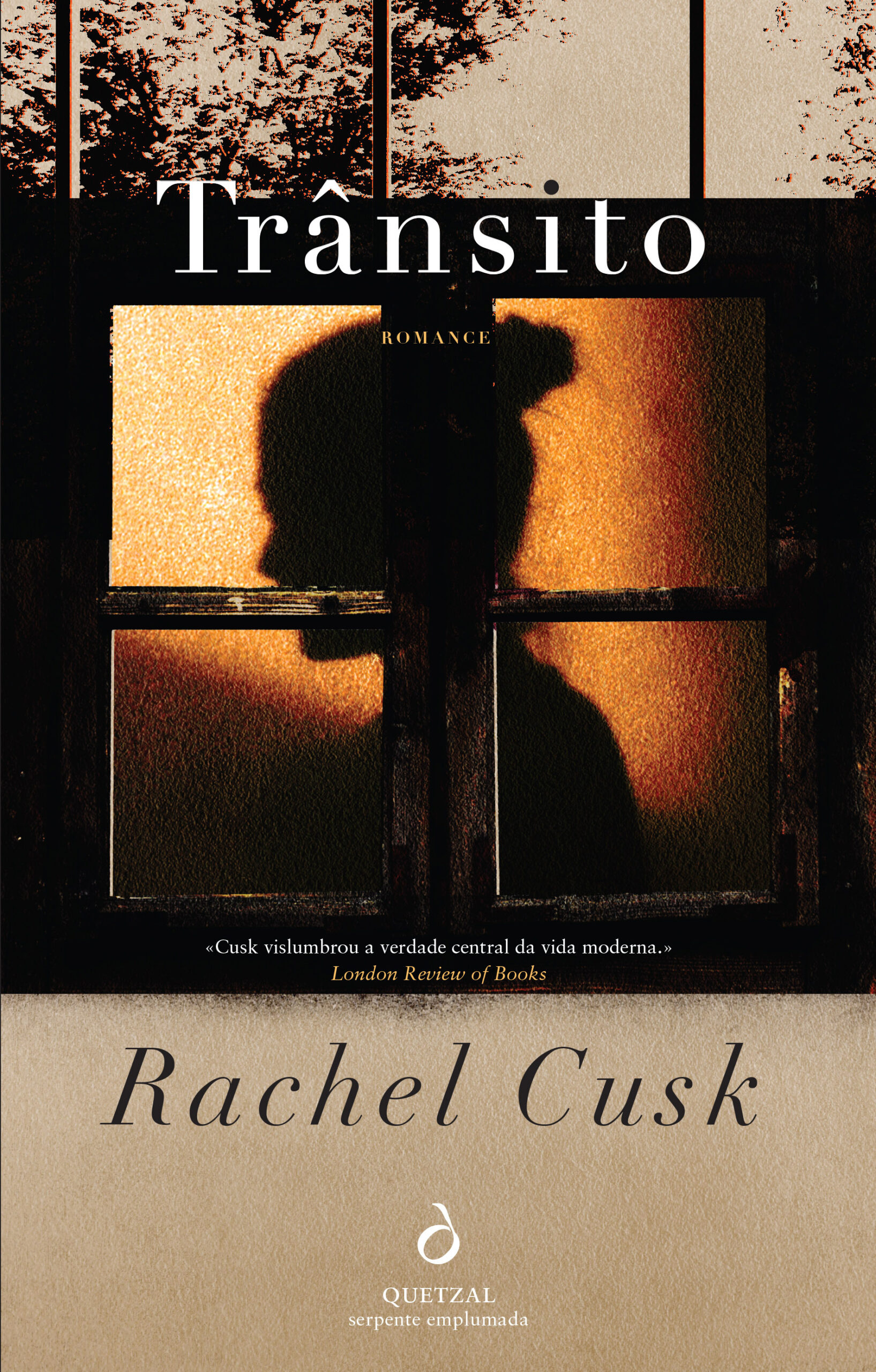
Mas Faye, ou Rachel Cusk, acaba por deixar pequenas indicações de leitura deste seu romance, se o leitor estiver atento, sempre pelo discurso de outrem: «Afirmou que esperava que eu estivesse de acordo com a sua avaliação, uma vez que deduzira da minha obra que, se eu tinha imaginação, tinha o bom senso de a manter oculta.» (p. 151)

Há muito poucos momentos em que ela própria deixa entrever aquilo em que pensa, mas a sua capacidade de observação é sempre arguta, por vezes cáustica, como quando nos descreve o homem a seu lado no avião e que se prepara para lhe contar toda a sua vida: «Tinha quarenta e tal anos, um rosto que era ao mesmo tempo atraente e banal, e a indumentária limpa, bem engomada e neutra de um homem de negócios em fim de semana. (…) Irradiava uma virilidade anónima e ligeiramente provisória, como um soldado de uniforme.» (p. 11)
Arlington Park
Depois de descobrir a autora através das obras mais recentes, fui procurar o que mais se encontrava publicado em Portugal e descobri uma obra que aliás já me era familiar, recorrendo, como muitas vezes recorro, ao que encontro nas bibliotecas públicas (neste caso, a da Biblioteca Municipal de Loulé).
Arlington Park, obra traduzida por Tânia Ganho e publicada pelas Edições Asa, é bastante diferente de livros como Kudos, mas é igualmente uma leitura essencial a não perder. Uma espécie de Donas de Casa Desperadas, Arlington Park é uma versão erudita da histeria que significa viver no microcosmos de um subúrbio. O livro está brilhantemente escrito, e a acção condensa-se no único dia da vida de cinco mulheres, sendo que cada capítulo se centra em cada uma das personagens, para depois as retomar e por fim as reunir num jantar que se pode tornar catastrófico. Todas estas mulheres têm em comum, mesmo que não encontrem afinidades genuínas entre elas, o facto de se sentirem perdidas no seu casamento, na sua nova vida de mãe doméstica, como se o desfecho de todo o casamento fosse tornar-se uma peça de teatro, ou antes, uma farsa: «Maisie ouviu os passos do marido nas escadas; sentiu-o a aproximar-se, como que saído do âmago de um qualquer fogo ou fornalha invisível, onde ele era recriado em prol dela, fabricado uma e outra vez a partir das suas ausências. Sentiu uma consciência quase que insuportável da realidade dele, da vida dele e da tarefa, da tarefa dela, de manter aquelas representações dele coesas e contínuas. Era amor, esse trabalho de decifrar, interpolar e testemunhar: ser testemunha de algo na sua totalidade, isso era amor.» (p. 196)
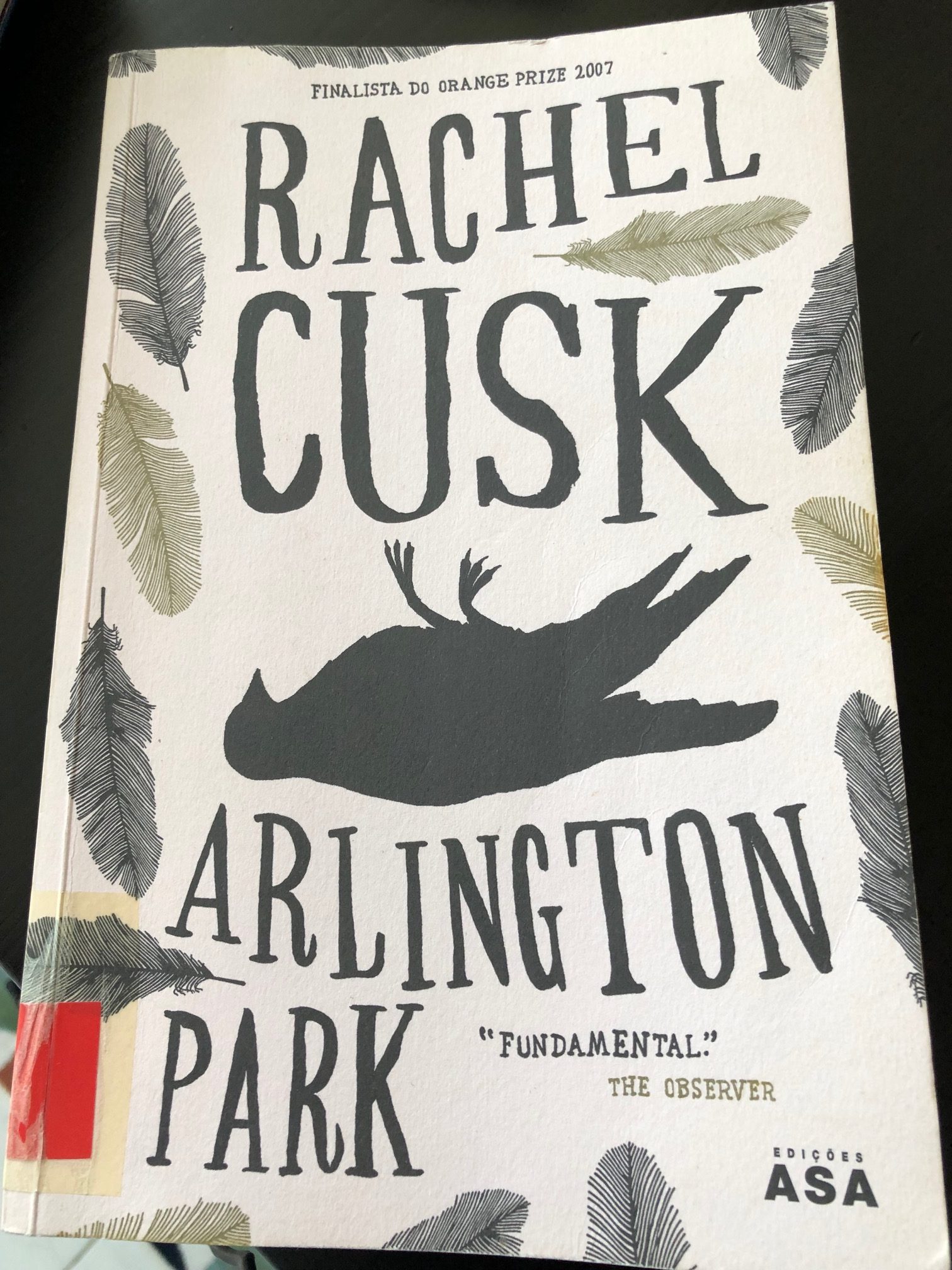
Perpassa na narrativa um forte sentido de identidade feminina, do que significa ser mulher e mãe, e chega a ser chocante a hostilidade que por vezes estas mulheres manifestam perante os seus maridos, que parecem ter-se tornado perfeitos estranhos. Juliet é professora num liceu e apenas consegue encontrar algum consolo nas tardes em que reúne jovens raparigas num clube literário; Amanda é uma dona de casa cujo perfeccionismo e obsessão pela limpeza pode esconder uma homicida latente; Solly está prestes a dar à luz o seu quarto filho, sem conseguir perceber como é que se deixou apanhar nessa armadilha novamente, até que decide alugar um quarto vago e encontrar consolo na misteriosa vida das estudantes solteiras que o ocuparão; Maisie tenta domesticar o seu espírito agora fora da azáfama londrina e cingido à pacatez do subúrbio; Christine continua igualmente a sentir a aura londrina como um nevoeiro que dissipava ou esbatia a nitidez da realidade, e procura nas outras mulheres algum tipo de aliança…
A escrita de Cusk é absolutamente deliciosa e original, impregnada de algum humor negro, pois todas estas mulheres estão também à beira de um ataque de nervos, todas elas “interessantes”, porque têm os seus próprios “ódios de estimação”, como reflecte Christine (p. 113). Até ao descrever a mais banal das situações, a autora consegue modelar a linguagem e dar-lhe novos sentidos, como quando descreve o cenário à entrada de um centro comercial, local que parece servir de refúgio a estas mulheres: «todas as camadas do edifício eram visíveis dali de baixo. Parecia uma ilustração das cavidades do coração: as pessoas eram levadas para cima pelas escadas rolantes e, no fim, voltavam a emergir, oxigenadas pelas compras.» (p. 90)
Leia também: Han Kang – Nobel de Literatura | Por Paulo Serra

















